Coluna Garantismo Processual / Coordenadores Eduardo José da Fonseca Costa e Antonio Carvalho
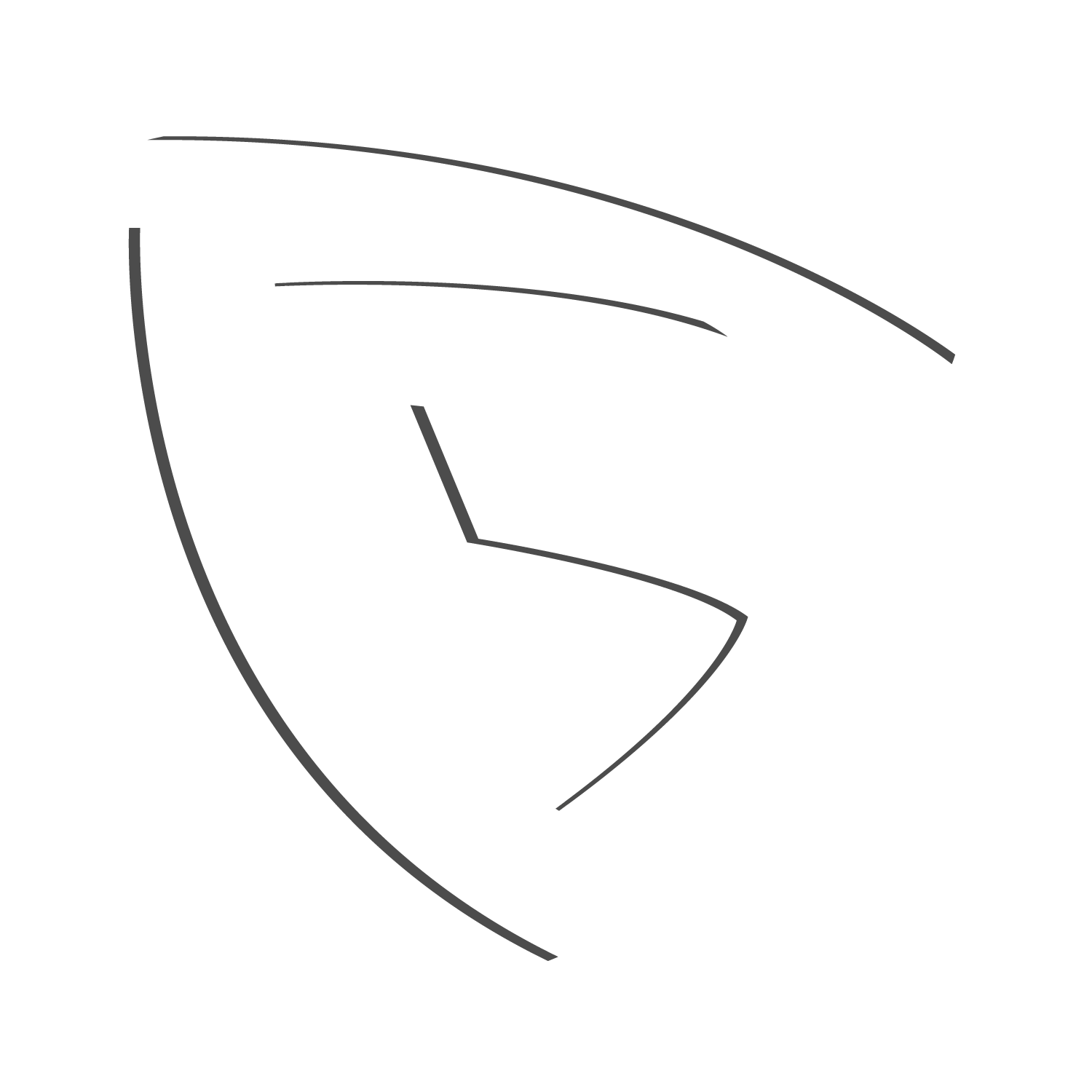
O ornitorrinco é um animal intrigante. Exclusivo da Austrália – aliás, país de uma fauna toda exótica e particular –, é mamífero, mas põe ovos; tem bico e patas de pato, mas, fora isso, nada tem a ver com eles; é animal terrestre, mas pode passar longos períodos dentro d’água; produz veneno composto por dezenas de toxinas, algo raro em mamíferos – e que, no seu caso, não mata um humano.
Como se vê, o ornitorrinco se parece com muita coisa e ao mesmo tempo não se parece com nada. Ele é o que é: um animal peculiar – até estranho, para alguns.
Assim é o interrogatório livre, previsto no art. 139, VIII, CPC. Por meio dele: apenas o juiz pode formular perguntas às partes; dependendo das respostas que forem dadas, o juiz pode decidir com base nelas – até confissão pode advir, embora não haja necessidade de prévia intimação pessoal na qual conste que a ausência ou recusa a depor (por silêncio ou evasivas) gerará presunção de veracidade do que com o depoimento se queria comprovar; não há momento específico para ser realizado nem limite de quantas vezes pode ser realizado, ficando tudo ao alvedrio do juiz.
O interrogatório livre parece o depoimento pessoal, mas não parece. Ele é o que é: um instituto peculiar – até estranho, para alguns.
Assim colocada a questão, até parece que o depoimento de parte e o interrogatório coexistem, como institutos distintos. Institutos autônomos e distintos, com conteúdos e efeitos próprios.
Mas será mesmo?
Não, definitivamente não. O interrogatório livre não é instituto diverso do depoimento de parte.
Ontologicamente, há uma só coisa: a oitiva de parte. E não se trata de um mero apuro analítico (embora sejam fundamentais à racionalidade da dogmática jurídica). Trata-se de um estranhamento que alcança o plano normativo-constitucional. Indo ao que efetivamente é o interrogatório livre, desvelando suas características, de lá se retorna com a constatação da sua inconstitucionalidade.
É o que se pretende demonstrar com este escrito.
O primeiro passo é explicitar, posto que brevemente, o fio condutor do raciocínio que será desenvolvido, a saber, a compreensão do processo como instituição de garantia da liberdade das partes contra os abusos e desvios do Poder.
MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO. PROCESSO COMO INSTITUIÇÃO DE GARANTIA. REPARTIÇÃO FUNCIONAL EQUILIBRADA. A PRIMAZIA DA IMPARCIALIDADE
A ninguém estranha dizer que o processo (aliás, todo o direito) deve ser compreendido a partir da e em conformidade com a Constituição.
Contudo, a trivial constatação não se basta com a mera anunciação, tampouco se compraz com qualquer conteúdo atribuído pelo intérprete. Não há interpretação conforme a Constituição apenas porque assim disse o intérprete. Rente aos limites deste texto, cumpre ter Gadamer em vista para, além da intersubjetividade, da faticidade e da historicidade, manter acesa a máxima segundo a qual “antes de falar sobre um texto devemos permitir que o texto nos diga algo”. Antes de falar sobre a Constituição deve o jurista permitir que “a Constituição fale”. A Constituição não é aquilo que intérprete gostaria que ela fosse. Ela “é” a despeito do querer intérprete. Não se trata de objetivismo, mas se deve negar o subjetivismo. A hermenêutica põe uma cadeira entre esses dois extremos (Ernildo Stein).
De modo que é na Constituição e não na consciência de cada jurista que está o modelo constitucional de processo. A Constituição condiciona a teoria, não o contrário. Nessa empresa, a obediência ao texto constitucional atua como um referencial mínimo[1].
Nesse sentido, uma exploração provisória do texto constitucional já identifica a institucionalidade garantística do processo: processo é instituição de garantia, não de poder estatal; “instituição garantística a serviço dos jurisdicionados”, não “instrumento a serviço do Poder jurisdicional”[2]. Portanto, asseverar que o processo deve ser compreendido a partir da Constituição é dizer que deve ser compreendido como instituição de garantia contrajurisdicional. O processo é res publica que serve às partes ao mesmo tempo em que desserve ao Estado quando este exerce com arbítrio a função jurisdicional[3].
Decididamente, a Constituição repele a concepção do processo como instrumento (à disposição) da Jurisdição (=Poder), isto é, como espaço onde o Estado exerce o seu império[4].
Com isso em vista se pode, efetivamente, extremar os conceitos e as funções da jurisdição e do processo, tarefa em geral cumprida insatisfatoriamente pela doutrina.
Todo objeto de conhecimento pode ser apreendido em sua definição (ontologia = o que ele é) e em sua destinação (teleologia = qual a sua finalidade). Por força da hegemonia epistemológica do instrumentalismo processual, consolidou-se a ideia de que processo e jurisdição têm o mesmo objetivo, o que é perfeitamente natural, visto que o primeiro constitui meio de atuação da segunda e deve ser entendido em função desta[5]. É a noção de processo como instrumento da jurisdição. O que diz apenas sobre o seu fim, nada acerca do seu ser; nenhuma informação fornece a respeito do que ele é, posto tudo diga relativamente a que(m) ele serve. Assim, a useira definição de processo não passa de destinação travestida. Por sinal, idêntico baralhamento se vê também nas correntes ligadas à cooperação processual, segundo as quais tanto o processo quanto a jurisdição têm por fim prestar tutela aos direitos e promover a unidade do direito mediante precedentes[6]. Como é a jurisdição que presta tutela aos direitos e forma precedentes através do processo, fica pouco mais do que evidente que, na formulação, o segundo é reduzido a instrumento da primeira. Tamanhas as afinidades eletivas entre eles que já se afirma – sem surpresa – ser o instrumentalismo o fundamento do modelo cooperativo[7]-[8].
O marco teórico do garantismo processual oferece diferentes definição e destinação à instituição do processo. Tenha-se claro, de saída, que o caráter multifacetado do fenômeno jurídico torna impossível responder sobre a natureza jurídica um instituto de modo genérico, afinal a resposta varia conforme se tenha em mente o âmbito jurídico-administrativo, jurídico-tributário, jurídico-teórico etc. Daí essa investigação dever delimitar o subdomínio da juridicidade a que se refere. Afirmar que o processo é “instituição de garantia contrajurisdicional de liberdade das partes” é responder sobre sua natureza jurídico-constitucional. Essa definição pretende (nos limites em que isso é possível) ser estritamente descritiva do direito constitucional positivo brasileiro (no máximo, de seu bloco de constitucionalidade), nada mais. Não aspira ser ideal, tampouco ambiciona alcance universal. Dispensa-se de ser referencial de lege lata à institucionalidade jurídico-positiva de outras comunidades políticas[9]. Posta a definição, torna-se possível diferenciar claramente a destinação do processo e da jurisdição: se o fim da jurisdição é a solução dos casos mediante aplicação imparcial da lei[10], o fim do processo é garantir que tal atividade se dê sem ilicitudes, excessos ou abusos do Estado-juiz[11]. Fito esse, aliás, plenamente compatível com o dado invariável (posto que não exauriente) do constitucionalismo: a contenção do poder para a tutela das liberdades.
Em suma, o fim da jurisdição é realizar o direito material e o do processo é cuidar para que essa realização se dê sem abusos por parte do Estado-juiz. Afirmar que o fim da jurisdição é prestar tutela aos direitos e que o do processo é prestar tutela aos Direito é dissolver o processo na jurisdição[12], mantendo-se aferrado à concepção instrumentalista de processo, centrada na (e obcecada pela) jurisdição[13].
Portanto, a Constituição de 1988 indubitavelmente erigiu, como, aliás, se antevê já de sua topologia[14], o processo como instituição de garantia[15] contrajurisdicional de liberdade, em sentido positivo e em sentido negativo[16].
Liberdade em sentido positivo é a garantia de autodeterminação da parte no processo, de agir conforme suas escolhas estratégicas e táticas[17]. É a liberdade de alegar fundamentos de fato e de direito, de formular pedidos, de provar as alegações de fato etc. E a liberdade em sentido negativo é a garantia de exercer as liberdades positivas sem interferências do juiz. Porque o juiz é terceiro, a iniciativa de manejar os fatos, os fundamentos jurídicos, os pedidos, as provas é exclusiva das partes etc. Se o juiz exerce alguma situação jurídica ativa consistente em liberdade positiva age como parte, torna-se parte. Com isso, “o espaço de liberdade se degrada numa mera circunscrição de autoridade”. Afinal – e eis o ponto – o processo como garantia contrajurisdicional realiza-se mediante uma divisão equilibrada de papéis: o juiz não exercer as liberdades da parte, nem lhes controla a conveniência e oportunidade; a parte não se arvora nos poderes do juiz, embora lhes controle o exercício. Parte não despacha, não decide, não sentencia, mas controla tudo o que o juiz realiza no processo. O juiz não faz escolhas insindicáveis. Não tem liberdade positiva nem negativa. O juiz não interfere na atividade da parte, mas esta interfere na do juiz[18].
Portanto, a imparcialidade reivindica a centralidade das garantias processuais. Afinal, o processo não pode ser instituição de garantia contrajurisdicional se o juiz for parcial. Ela é a primeira garantia contra os abusos e desvios do poder[19].
Ademais, o processo é garantia de ampla e efetiva participação do cidadão na formação do ato de poder que o afetará. Conforme o parágrafo único do art. 1º da CRFB, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Da formação dos atos de poder emanados do Judiciário o cidadão participa diretamente (por seu advogado, no mais das vezes), no seio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB), desenvolvido em contraditório[20].
Assim, o processo é garantia de participação efetiva do jurisdicionado no desenvolvimento e resultado dos provimentos de que é destinatário, tudo sob a forma de uma instituição de garantia contra os abusos e excessos do Estado, que só pode agir nos termos do procedimento previsto em lei (ou dos contornos definidos pelas partes, conforme art. 190, CPC, ou entre elas e o juiz, ex vi do art. 191, CPC).
Defende-se neste texto que o interrogatório livre é incompatível com o desenho constitucional do processo, algo que se pode antever já por sua origem, a cognitio extra ordinem, marcada pelo protagonismo e recrudescimento dos poderes do juiz, de um lado, e o consequente enfraquecimento dos mecanismos de controle do arbítrio, de outro[21].
Claro que a inconstitucionalidade do interrogatório livre não decorre (apenas nem fundamentalmente) de sua origem. Esta, por si só, depõe gravemente contra si, mas sucede o seguinte: sob o fundamento de ser “essencialmente” diferente do depoimento da parte, ele permite que o juiz interfira no procedimento livremente, alterando-o (antecipando ou repetindo atos) a seu talante. Como se o juiz tivesse liberdade positiva para fazer escolhas, como se exercesse o contraditório como parte, violando a imparcialidade objetiva (impartialidade).
Parte-se de um erro (é falsa a diferença ontológica entre interrogatório livre e depoimento de parte) e chega-se a uma inconstitucionalidade (a possibilidade de manejo do procedimento pelo juiz de modo livre faz ruína do devido processo legal, constitucionalmente instituído para ser garantia do jurisdicionado contra o exercício do poder de forma livre pelo Estado-juiz).
Os capítulos seguintes cuidarão de deixar o argumento mais claro e robusto.
UNIDADE ONTOLÓGICA ENTRE DEPOIMENTO DE PARTE E INTERROGATÓRIO LIVRE
Conforme o Código de Processo Civil, a parte pode ser ouvida via depoimento de parte (art. 385 e ss.)[22] ou interrogatório livre (art. 139, VIII)[23].
Há quem distinga os institutos quanto à natureza, sustentando que o depoimento de parte é meio de prova, voltado precipuamente à obtenção da confissão, enquanto o interrogatório livre é poder do juiz, voltado apenas à obtenção de esclarecimentos necessários à informação adequada sobre os fatos da causa, sem valor probante[24]. Assim, o depoimento da parte é meio de prova e interrogatório livre é meio de clarificação.
Partindo de tal distinção de natureza e finalidade dos institutos em liça, essa mesma doutrina criticava o CPC/1973 por discipliná-los, indiscriminadamente, no plano do depoimento pessoal (arts. 342 e 343), como se ambos fossem meios de prova[25]. Por isso, festejou o CPC/15, que corrigiu “o equívoco” ao situar o interrogatório livre no plano dos poderes e deveres do juiz e manter apenas o depoimento da parte no plano do direito probatório[26]. Como se a novel legislação tivesse se curvado à natureza das coisas, pondo tudo nos devidos lugares.
Vingando essa compreensão, os institutos diferem quanto: (i) ao momento – o depoimento de parte deve ser produzido na audiência de instrução e julgamento, ressalvada a antecipação dos arts. 381 e 382, CPC/15; o interrogatório livre, a qualquer tempo; (ii) à quantidade – o depoimento de parte só pode ser realizado uma vez; o interrogatório livre, quantas vezes o juiz considerar necessárias; (iii) à iniciativa – o depoimento de parte exige requerimento da parte contrária; o interrogatório livre só pode ser determinado de ofício; (iv) à dinâmica – o depoimento pessoal comporta perguntas do juiz e do advogado do adversário; no interrogatório livre, apenas o juiz indaga; e (v) às consequências – o depoimento pessoal visa a obtenção da confissão, tanto que em caso de ausência injustificada ou de recusa (por silêncio ou evasivas) incide a cominação de confissão ficta; no interrogatório livre não há tal cominação[27].
A sistemática acima permite estabelecer uma relação linear entre depoimento da parte-confissão e interrogatório livre-clarificação. Como se num não houvesse o atravessamento das características do outro.
Ocorre que não é possível sustentar tais diferenças entre depoimento da parte e interrogatório livre. Esse exercício meramente semântico não resiste à pragmática da linguagem.
Com efeito, Ludwig Wittgenstein demonstrou que a linguagem não é constituída apenas por suas expressões, incluindo todas as ações com as quais essas expressões estão interligadas. Ela não pode ser concebida como uma estrutura abstrata, separada e isolada em si mesma, e sim como uma prática que penetra e está indissoluvelmente ligada a todas as atividades desenvolvidas e efetuadas pelos seres humanos. A linguagem não é indiferente ao plano prático, pois se encontra imersa num complexo de ações. Consequentemente, não é possível entender o fenômeno linguístico sem nos atermos à participação ativa dos seres humanos em sua utilização e em suas constantes mudanças. O filósofo rejeita uma teoria geral da linguagem, pois considera que o seu sentido só pode ser definido em concreto, dentro de determinado contexto de uso. Vale dizer, o uso determina o significado das palavras. E como há uma pluralidade de circunstâncias em que as práticas da linguagem são efetivadas, não se deve esperar que os usos das palavras sejam uniformes[28]. Em suma, a linguagem não possui apenas os problemas do plano semântico (vagueza, ambiguidade e carma emotiva), depende das relações no plano pragmático.
Pois bem.
A oitiva da parte envolve uma dinâmica absolutamente complexa e pulsante, incompatível com cortes, definições e limitações estabelecidas em abstrato em relação ao seu conteúdo. Considerando tanto o emissário quanto o destinatário, é impossível antever, com precisão, se uma pergunta visa mero esclarecimento ou anseia provocar confissão, bem como se uma resposta pretende ter pertinência probatória ou meramente informativa. Claro, o contexto e a formulação de perguntas mais diretas permitem alguma diferenciação, mas nem tudo (não raro, quase nada) se dá de modo claro. Uma dose de técnica, astúcia e destreza pode alterar as coordenadas da compreensão[29]. O direito e o não-dito contam igualmente (quando não este mais que aquele). E parte do dimensionamento pode sofrer o atravessamento do inconsciente[30]. Não é possível controlar previamente como um “mero esclarecimento” atuará sobre a formação do convencimento do julgador, isto é, se não será recepcionado, ele mesmo, como elemento de prova, e como poderá interferir na valoração das provas.
É perfeitamente possível que o juiz ouça a parte com o genuíno interesse de obter apenas esclarecimentos, mas as respostas conduzirem, sem direcionamento do magistrado, para o terreno probatório, resvalando em confissão. Nesse caso, o que o juiz deve fazer: avançar na inquirição, já que a confissão permitirá uma decisão robusta, ou encerrar a oitiva, já que o interrogatório não tem essa finalidade? Não é infundado afirmar que vence a primeira alternativa. O que reforça a insuficiência da distinção semântica em liça, bem como a ingenuidade da crença de que é possível definir e delimitar previamente os elementos sensíveis relacionados à oitiva da parte. Só é possível saber se o teor das perguntas buscava e as respostas dadas conduziram a meros esclarecimentos, informações com valor probatório ou mesmo confissão no caso concreto e posteriormente à sua realização. Aqui, a pragmática aniquila a semântica.
O problema da forçada distinção entre interrogatório livre e depoimento de parte não é ser inútil. Grave mesmo é que essa ficção pode cevar problemas. Suponha, v.g., que no curso do interrogatório livre o advogado do interrogando considera que certa pergunta formulada pode induzir seu cliente a confessar e interpela o magistrado sobre a impropriedade da ocasião; segue-se discordância aberta e vigoroso impasse para definir o conteúdo e o propósito da pergunta e a possível eficácia jurídica da resposta... De largada, esse problema não existiria se não tivéssemos o duplo regime para a oitiva de parte – tanto que não existe no procedimento penal, onde tudo se resolve em interrogatório (art. 185 e ss., CPP). Ademais, nada será mais estéril que investigar se a razão está com o juiz ou o causídico. Além do que já se disse, urge ter em vista que suas percepções sobre as questões em jogo (v.g.; qual o propósito da pergunta? É aquele ato o locus adequado para perguntas com esse propósito? Como as respostas podem vir a ser valoradas?) são ao menos parcialmente conformadas por dados extralinguísticos não apreensíveis externa e objetivamente, sejam propósitos conscientes cuidadosamente não explicitados (v.g. o juiz pretende mesmo obter confissão, embora negue seu intento; o advogado pretende evitar que seu cliente confesse, agarrando-se na formalidade de que o ato designado foi interrogatório livre, não um depoimento de parte), sejam pulsões inconscientes empurradas por automatismos mentais decorrentes dos vieses cognitivos. Sem esquecer que, embora lícito e indesejável, a interpelação, por si só, pode afetar a valoração do juiz em detrimento do interrogando, o que pode inibir o advogado de se insurgir mesmo que fosse devido (v.g. a convivência ou a troca de informações com terceiros pode oferecer ao advogado esse mapeamento do julgador em questão). É externalidade negativa (uma entre tantas) que não pode ser desprezada. Excluir (mais) essa variável (quiçá de não rara ocorrência) do estudo do interrogatório livre e do depoimento de parte é fruto de cândida ingenuidade ou detestável insinceridade.
O que se disse acima toca os embates que podem surgir durante a oitiva. Sem embargo, também é perfeitamente possível que haja dissenso após a sua realização, isto é, sobre a valoração dela feita pelo juiz. Onde este divisa elemento de prova pode haver apenas aclaramento – e vice-versa. Dissenso de boa-fé, inclusive. Afinal, atribuir esse ou aquele sentido (e, pois, tal ou qual status jurídico) às informações prestadas é questão interpretativa particularmente complexa, dada a dificuldade que pode haver no caso concreto para distinguir elemento de prova e mero esclarecimento.
Com isso não se quer nem é necessário dizer que nada pode ser apenas aclaratório ou apenas probatório, tampouco que seja impossível detectar essa diferença em concreto. Trata-se apenas de reconhecer que essa sempre será uma questão interpretativa controversa e posterior à valoração que dele farão as partes e o juiz (e tantos quantos mais analisarem a oitiva), o que atesta a improdutividade de diferenciar interrogatório livre de depoimento de parte – repita-se: apenas por causa dessa distinção é que esses problemas se colocam. É isso que importa. Ora, é perfeitamente possível que a parte seja ouvida com o genuíno interesse de obter apenas esclarecimentos, mas as suas respostas acabarem conduzindo, sem direcionamento intencional do magistrado, para o terreno probatório, inclusive resvalando na confissão. Nesse caso, o juiz deve avançar na inquirição, já que a confissão permitirá uma decisão robusta, ou encerrar a oitiva, já que o interrogatório não tem essa finalidade? Não há dúvida de que prevalecerá a primeira opção. Afinal, não se defenderia a nulidade de uma confissão apenas porque obtida em interrogatório livre. São apenas mais ângulos de demonstração da inutilidade da distinção em liça[31].
De mais a mais, a imbricação entre depoimento de parte e interrogatório livre fica clara na percepção, proveniente tanto da intuição quanto da praxe do foro, de que, ordinariamente, não se obtém confissão mediante a formulação de perguntas secas e diretas. De regra, o caminho para (tentar) chegar a ela é mais sutil, se faz pela articulação inteligente de perguntas que envolvem de tal modo o depoente que, de resposta em resposta (pode-se dizer: de esclarecimento em esclarecimento), ele acaba confessando sem nem perceber – e quando percebe sabe que é arriscado voltar atrás em face do risco de perder a credibilidade por força da contradição interna.
Ao fim e ao cabo, a parte pode ser ouvida (gênero) por depoimento de parte ou interrogatório livre (espécies), sendo impossível definir prévia e abstratamente se será apenas depoimento da parte (=meio de prova por meio do qual se busca a confissão) ou interrogatório livre (=poder do juiz por meio do qual se busca apenas clarificação). O nome atribuído previamente à oitiva da parte é dado totalmente irrelevante no que tange ao que pode ocorrer ali, inclusive à eficácia jurídica atribuível ao seu resultado. Quer isso dizer que de um depoimento da parte pode advir apenas clarificação (o que, em tese, seria próprio de um interrogatório livre), assim como de um interrogatório livre pode advir confissão, ou, quando menos, informações com valor probante (o que, em tese, seria próprio de um depoimento de parte).
É que, em termos ontológicos, não há interrogatório livre e depoimento pessoal como entes distintos. O que há é apenas oitiva de parte. Não por acaso, como já dito, o procedimento penal contempla apenas uma forma de oitiva de parte, lá chamado de interrogatório (art. 185 e ss., CPP). Seja para obter esclarecimentos, elementos de prova ou confissão, tudo se faz pelo interrogatório – e por fazer essa opção mais modesta e frutífera está livre de todos os problemas acima referidos.
A verdade, assim, é que só se sabe como a oitiva de parte começa: como oitiva da parte! Afinal, repita-se, somente em análise posterior e concreta será possível saber se resultou em confissão (ou, quando menos, em elementos de prova) ou esclarecimentos. O sentido se dará no uso, no caso concreto (contexto).
Por isso não espanta que, mesmo sem articular expressamente a partir dos planos da linguagem, a doutrina divirja sobre a distinção. Alguns entendem que, no fundo, depoimento da parte e interrogatório livre buscam a confissão[32], mas há quem sustente, no extremo oposto, o objetivo precípuo e comum dos dois é a busca de clarificação, sendo a confissão mera consequência eventual de ambos[33]-[34].
Também por isso não surpreende a contradição daqueles que, num primeiro momento, sustentam a diferença entre depoimento da parte e interrogatório livre, mas, em seguida, reconhecem a possibilidade de um interrogatório livre resultar em confissão[35], ou, quando menos, em algum elemento de prova capaz de influir no convencimento do julgador[36]. Não é desprovido de fundamento supor que essa barafunda conceitual decorre da percepção (talvez inconsciente) de que as referidas definições de conceitos e finalidades são insustentáveis no plano fenomenológico-pragmático. De alguma maneira se percebe o erro de atribuir regimes jurídicos distintos a uma só coisa, de tratar como plural o que é singular[37].
É possível sistematizar assim: (i) o interrogatório livre busca precipuamente clarificação e o depoimento da parte busca precipuamente confissão, mas do interrogatório pode advir confissão e do depoimento clarificação; (ii) o interrogatório livre e o depoimento da parte buscam precipuamente confissão; e (iii) o interrogatório livre e o depoimento da parte buscam precipuamente clarificação. Difícil é saber o que isso pode ter de útil...
Sequer a artificialidade do direito sustenta a malfadada distinção. Afinal de contas, “o sistema de normas jurídicas só é viável (concretizando-se, realizando-se) se o sistema causal, a ele subjacente, é, por ele, modificável. Se o dever-ser do normativo não conta com o poder-ser da realidade (...), o sistema normativo é supérfluo”. Discernir depoimento de parte e interrogatório livre quanto ao conteúdo é pretender instituir um dever-ser jurídico-normativo que não pode-ser na realidade. Decididamente, “descabe querer impor uma causalidade normativa contrária à causalidade natural, ou contra a causalidade social”[38]. A diferenciação é tarefa malograda, pois.
Também não é possível diferenciar o conceito dessas formas de oitiva de parte a partir da aptidão do depoimento da parte para produzir confissão ficta. Pensar assim seria é incorrer em erro grave no plano da teoria do fato jurídico. Definir o depoimento de parte pela sua aptidão ou não para resultar confissão ficta é incorrer no erro de definir o plano da existência com os olhos voltados para o plano da eficácia. A rigor, a confissão ficta é consequência eventual do depoimento de parte. É efeito dependente de que (i) conste advertência expressa na intimação para depor (art. 385, p.único, CPC/15) e, cumulativamente, (ii) o depoente incorra em uma das condutas previstas em lei (se ausente injustificadamente ou se recuse a responder, silenciando ou lançando evasivas – arts. 385, p. único e 386, CPC/15[39]). Ausente o pressuposto (i), o depoimento da parte existe e é válido, mas é ineficaz para produzir confissão ficta, posto que possa resultar em confissão real. Portanto, o ato não deixa de ser depoimento de parte (art. 385 e ss., CPC) apenas por não poder redundar em confissão ficta.
Por isso, não faria sentido sequer manter o “instituto” do interrogatório livre para assim denominar o “depoimento de parte sem aptidão para gerar confissão ficta”. Sobre não passar de nominalismo estéril, mantido – apenas para argumentar – o critério corrente, já se viu no parágrafo anterior que a aptidão para obter confissão ficta não é elemento essencial do depoimento de parte, mas eficácia eventual; sequer é sua finalidade exclusiva, pois também se volta à obtenção de elementos de prova. Ora, basta haver oitiva de parte (gênero que congrega a unidade ontológica entre o que se costuma chamar de depoimento de parte e interrogatório livre) e a ela ser atribuído regime eficacial variado, ora sendo capaz de produzir confissão ficta, ora não[40]. No caso, para a oitiva de parte (chamada pelo direito positivo, no caso, de depoimento de parte) não poder resultar em confissão ficta basta não inserir as advertências dos arts. 385 e 386, CPC, na intimação para depor, nem suprir a sua falta no início do depoimento.
Em suma, tudo não passa de oitiva de parte (gênero). Só é possível discernir entre interrogatório livre e depoimento de parte (espécies?), tal como usualmente compreendidos – e tentado pelo direito positivo –, posteriormente e em concreto (embora isso não tenha qualquer utilidade).
Daí ser impossível insistir na relação estanque entre (i) depoimento de parte–confissão e (ii) interrogatório livre–clarificação, devendo ser incluída as relações (iii) depoimento de parte–clarificação e (iv) interrogatório livre–confissão. Outro modo de dizer é (i) oitiva de parte-clarificação e (ii) oitiva de parte-confissão. De modo mais simples e rigoroso: oitiva de parte-clarificação-elemento-de-prova-confissão.
Mas atenção: negar a distinção entre depoimento de parte e interrogatório livre não pode conduzir à conclusão de que o apuro feito neste escrito é igualmente despido de utilidade, como se não passasse de mero reparo terminológico. É precisamente o contrário. Provar que depoimento de parte e interrogatório livre são uma só coisa (=oitiva de parte) e não admite cisões ontológicas servirá para alcançar duas conclusões: (i) ambos são meios de prova – se a sua realização resultará em obtenção de elementos com valor probante é uma questão de eficácia apurável apenas em concreto – e (ii) as restrições procedimentais próprias do interrogatório livre tornam inconstitucional o art. 139, VIII, CPC.
Este capítulo buscou demonstrar a procedência da asserção (i). A comprovar que, ao contrário do que professa o discurso hegemônico, o interrogatório livre tem, sim, função probatória[41]. Função que sempre teve e que continua tendo. Não é que tinha ao tempo do CPC/1973 só porque estava situado na Seção II, Capítulo VI, do Título VIII, do Livro I, que cuidava do depoimento pessoal (art. 342), tampouco deixou de ter, agora, com o CPC/15, só porque foi inserido no Capítulo I, do Título IV do Livro I da Parte Geral, que trata dos poderes e deveres do juiz (art. 139, VIII). Tinha e segue tendo porque é isso que ele é. Essa é a sua “essência”. Melhor dizendo: que a própria distinção entre interrogatório livre e depoimento de parte é inútil, que há apenas oitiva de parte.
No capítulo seguinte se passará a demonstrar a correção da afirmação (ii). Antecipa-se que o grande problema é o art. 139, VIII, CPC, instituir um meio de prova à disposição exclusiva do juiz, que poderá, livremente, definir quando, como e quantas vezes quiser. A inconstitucionalidade aí embrenhada é o que se passa a expor.
INCONSTITUCIONALIDADES DO REGIME PROCEDIMENTAL DO INTERROGATÓRIO LIVRE
A compreensão de que o interrogatório livre é simples meio de aclaramento levou a doutrina a edificar-lhe o seguinte regime jurídico: (i) quanto ao momento, pode ser realizado a qualquer tempo; (ii) quanto à quantidade, pode ser realizado quantas vezes o juiz desejar; (iii) quanto à iniciativa, é privativa do juiz; (iv) quanto à dinâmica, apenas o juiz pode formular perguntas; e (v) quanto às consequências, não cabe confissão ficta[42].
Todavia, o reconhecimento de que o interrogatório livre constitui meio de prova torna inconstitucional o referido regime jurídico, ao menos em relação às características (i), (ii), (iii) e (iv). Embora reste a característica (v), não é suficiente para se manter a figura autônoma. Ela pode ser absorvida pelo depoimento de parte, basta não constar na intimação para depor (nem ser suprida quando do depoimento) a advertência a que se referem os arts. 385 e 386, CPC.
É o que se passa a demonstrar.
Em primeiro lugar, tal regime jurídico viola a garantia constitucional do contraditório e da imparcialidade objetivo-funcional.
Com efeito, já se disse alhures que a CRFB consagra um modelo de democracia confere ao contraditório uma dimensão de participação política na formação dos provimentos oriundos do Poder Judiciário. Daí se falar em contraditório em sentido substancial, não só como garantia de informação e reação, mas também como influência, não surpresa e dever de debate[43]-[44]. Não sendo o caso de se repetir o que já foi suficientemente exposto, passa-se à sua análise a partir de outro enfoque, qual seja, o da teoria do fato jurídico, particularmente o da eficácia.
No plano da eficácia situa-se a categoria da situação jurídica, quer dizer, é a “situação que de direito se instaura em razão de uma determinada situação de fato, revelada como fato jurídico, e que se traduz na disposição normativa de sujeitos concretos posicionados perante certo objeto”[45]. A situação jurídica possui dois tipos: as (i) situações jurídicas oniposicionais – seu objeto é a qualificação da pessoa para individualizá-lo, sob determinados aspectos, perante a ordem jurídica[46]; e as (ii) situações jurídicas relacionais – contêm sujeitos diversamente posicionados, ostentando posições jurídicas opostas, mas coordenadas à consecução do objeto único[47]. Como se vê, o que vai extremar um tipo de outro é justamente a existência do elemento “relação entre os sujeitos”[48].
Como são categorias da teoria do direito, podem (e devem) ser transportadas para o direito processual, especificadas como situações jurídicas processuais não relacionais e situações jurídicas processuais relacionais[49]. Assim, nas situações jurídicas processuais não relacionais os efeitos se produzem na esfera jurídica de um sujeito dispensando qualquer vínculo com outros sujeitos, enquanto nas situações jurídicas processuais relacionais os efeitos processuais se dirigem a sujeitos diferentes, em relação de correspondência – relação direito/dever[50]. Não há dúvida de que o contraditório é uma situação jurídica processual relacional[51].
Conforme o art. 5º, LV, CRFB, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Visualizando a partir da estrutura básica da norma jurídica (se A, deve ser B), pode-se dizer: se é parte em processo judicial ou administrativo (antecedente = elemento descritivo da norma jurídica – se A) deve ser assegurado o contraditório (consequente = elemento prescritivo da norma jurídica – deve ser B). Dito de outro modo, o suporte fático (=antecedente) é ser litigante e a correlata eficácia jurídica (=consequente) é assegurar o contraditório. Em suma, o art. 5º, LV, CRFB[52] contempla o contraditório como situação jurídica processual.
A rigor, situação jurídica processual relacional, pois encerra relação direito/dever. Envolve, de um lado, como sujeitos ativos e titulares de direito, as partes, e, de outro, como sujeito passivo titular dos deveres correlatos, o juiz. As partes são titulares das situações jurídicas processuais ativas e o juiz titular das situações jurídicas processuais passivas decorrentes do contraditório. Informação, reação, influência, não surpresa e debate são direitos das partes aos quais correspondem os deveres do juiz de assegurar-lhes informando, oportunizando a reação e enfrentando séria, expressa e minuciosamente o labor das partes. Em termos mais simples, o contraditório é direito das partes e dever do juiz[53]-[54].
O que conduz à seguinte e relevante conclusão: (i) os direitos decorrentes do contraditório se traduzem em funções processuais privativas das partes, e (ii) os deveres dele derivados se apresentam como funções processuais privativas do juiz. Afinal, ainda que episodicamente, se as partes pudessem exercer função privativa do juiz elas se tornariam julgadoras, do mesmo modo que o juiz, que se tornaria parte caso exercesse função privativa delas.
A garantia da imparcialidade exige alheamento psíquico e funcional do juiz. O magistrado deve ser subjetiva e objetivamente imparcial. Não pode intencionar beneficiar ou prejudicar qualquer das partes, tampouco exercer função de uma delas, como se seu mandatário fosse. Por isso, além de não preferir ou antipatizar com qualquer das partes, o julgador há de ser, efetivamente, um terceiro, não-parte, impartial. Juiz que exerce função de parte é advogado (ou promotor, conforme o caso) travestido com toga.
Pois bem.
Se o contraditório é garantia de influência e as provas são o elemento, por excelência, de influir no convencimento do juiz acerca, sobretudo, da matéria fática, é imperioso concluir que o contraditório é o fundamento constitucional do direito à prova[55]. Logo, a prova é situação jurídica derivada do contraditório, isto é, as situações jurídicas probatórias ativas (=direitos) são de titularidade partes e as situações jurídicas probatórias passivas (=deveres) são de titularidade do juiz.
Consequentemente – e eis o ponto –, o exercício das situações jurídicas probatórias ativas é função privativa das partes, ao passo em que o exercício das situações jurídicas probatórias passivas é função privativa do juiz. Assim, a este não é dado exercer os direitos probatórios, pena de violar a garantia da imparcialidade objetivo-funcional ou impartialidade.
Segundo a doutrina, são cinco as situações jurídicas probatórias ativas: (i) requerer, (ii) produzir, (iii) participar da produção, (iv) manifestar-se sobre e (v) ter a prova produzida examinada pelo juiz[56]. Esses são os direitos probatórios de titularidade exclusiva das partes aos quais correspondem os deveres do juiz de assegurá-los a respeitá-los.
O regime jurídico do interrogatório livre subverte essas relações jurídicas, transformando direitos das partes em deveres e deveres do juiz em direitos.
Com efeito, é suprimido o direito de requerer a produção da prova – situação (i). A parte não tem o direito de requerer o interrogatório livre, mas o juiz pode designá-lo sempre que quiser. É meio de prova que só pode ser realizado por iniciativa do juiz. Tem-se aí a violação do contraditório (supressão do direito de requerer a produção da prova) e da impartialidade (autorização para o juiz exercer função de parte).
De igual modo, são esvaziados os direitos de produzir e participar da produção da prova – situações (ii) e (iii). Discrepam as situações do interrogando e do adversário. O primeiro participa respondendo as perguntas formuladas pelo juiz, tal como se dá no depoimento de parte[57]. O segundo, porém, está impedido de formular perguntas; assiste passivamente, sem poder participar para influir no convencimento do julgador. Tem-se aí a violação do contraditório (supressão do direito de produzir e de participar da produção da prova).
De modo que o interrogatório livre constitui autorização para o juiz produzir provas sem a interferência ativa das partes, violando as situações jurídicas probatórias (i), (ii) e (iii), em clara ofensa ao contraditório e à impartialidade.
Em segundo lugar, viola a garantia do devido processo legal, da legalidade, da segurança jurídica e o modelo de Estado Democrático de Direito.
A história ensina que a força pode ser exercida com ou sem limites. Força ilimitada é Império. Força limitada é Poder. Deixada ao próprio alvitre, a força tende à expansão, à totalidade. O exercício limitado da força não é um dado natural do homem, mas conquista histórica e política que inspira permanente vigília[58]. Daí a limitação do poder ser o dado invariável (posto que não exauriente) do constitucionalismo[59].
Corolário valioso do constitucionalismo é o princípio da legalidade. Elemento capital à configuração do Estado de Direito[60], significa, no Estado Constitucional, a vinculação do Poder (estatal ou não) às leis e, sobretudo, à Constituição[61]. Daí ser tachada, ainda, de arquigarantia contrajurisdicional de não-criatividade que impõe o juiz o dever de fidelidade canina à lei[62]. Ao balizar o exercício do poder, a legalidade avulta como produto privilegiado do constitucionalismo.
A garantia da legalidade é umbilicalmente ligada à do devido processo legal[63]. Dessa imbricação o processo avulta como pressuposto de legitimidade dos provimentos estatais ainda que o procedimento, em seus modelos legais específicos, não e realize expressa e necessariamente em contraditório[64] que deve se expressar por meio de um procedimento em contraditório regulado exclusivamente em lei. Se o processo é garantia contrajurisdicional – sua finalidade é garantir que a Jurisdição seja exercida ser excessos, desvios e abusos –, não é dado ao juiz regular procedimentos[65]. Juiz que manipula o procedimento sem autorização legal descai em ativismo ao usurpar função legislativa e legislador que franqueia manipulação procedimental ope iudicis transforma o contraem pró-jurisdicional, deturpa a garantia do devido processo legal e incorre em inconstitucionalidade. Consoante feliz expressão, o procedimento é produto de fábrica legislativa, não manufatura de artesanato judicial[66]. Portanto – e dizendo com toda clareza – a adaptação do procedimento pelo juiz viola as garantias da segurança jurídica e do devido processo legal[67].
Ora, se o interrogatório livre é meio de prova; se o juiz detém exclusividade quanto à sua iniciativa; e se ele pode designá-lo quando e quantas vezes quiser, tem-se aí autorização para o magistrado adaptar o procedimento a seu talante e de modo insindicável. O procedimento (ou parte dele, pelo menos) é flexibilizado e não há pressupostos objetivos que permitam controlar racionalmente a sua atividade, deixando de ser escudo garantidor das partes para se transformar alquimicamente em ferramental plástico do juiz. O que deveria limitar e condicionar o magistrado é limitado e condicionado por ele. Dá-se o ferimento do núcleo duro da garantia contrajurisdicional do devido processo legal[68]. Essa suscetibilidade (ainda que parcial) do procedimento à inventividade do juiz gera incerteza e a imprevisibilidade quanto ao seu iter, configura lesão, também, à garantia da segurança jurídica[69]. Desprezar esse aspecto é ceder ao que há de pior no gerencialismo processual, a saber, seu vezo de ressignificar as garantias processuais a partir da eficiência, forma de distorção das garantias processuais mais sutil que as empregadas pelos regimes totalitários, mas nem por isso menos predatória e autoritária[70].
O regime jurídico do interrogatório livre é incompatível, ainda, o próprio cerne do Estado Democrático de Direito. Nesse regime, o centro do direito deixa de ser o Poder e passa a ser o indivíduo, o que, no processo, impõe o redimensionamento do eixo metodológico da jurisdição (Poder) para o processo (Povo)[71]. Consequentemente, tem-se a superação de qualquer forma de protagonismo judicial[72]. A autorização para o juiz alterar, sozinho, o procedimento em busca de “elementos de clarificação/esclarecimentos para bem se informar sobre os fatos da causa” é claro resquício de protagonismo judicial autorizador da modulação do procedimento. Porém, a forma do procedimento é garantia do cidadão contra os abusos e excessos do Estado-juiz, daí a flexibilização ope iudicis ser incogitável. A sujeição das partes ao alvitre do julgador, no particular, é de todo contrária aos pilares de liberdade que, fundados na dignidade da pessoa humana, iluminam ser garantístico do processo prescrito por nosso direito constitucional positivo. A permissão de alteração do procedimento livremente pelo juiz remete à ideia de reificação do homem para o gozo dos desejos do Soberano, o que torna o interrogatório livre um exuberante resquício inquisitorial que só pode grassar impune de desprezado o conteúdo do Estado Democrático Direito.
O caráter autoritário do art. 139, VIII, CPC, fica ainda mais evidente quando é comparado com dispositivos que permitem que as partes modifiquem o iter regular do procedimento. Enquanto o interrogatório livre permite que o juiz altere o procedimento quando e quantas vezes quiser, a parte só pode, com efeito, requerer a produção antecipada de prova ou a repetição da prova pericial quando demonstrar a presença dos pressupostos legais dos arts. 381[73] e 480, CPC[74], respectivamente. Para o juiz, basta o querer; para as partes, é necessário querer e convencer o juiz de que estão presentes os permissivos legais. É flagrante a inversão da ideia de processo como instrumento contrajurisdicional das partes.
Antes de arrematar, duas ponderações.
Primeiro, os arts. 190 e 191, CPC, não infirmam nada do que se disse até aqui. Se o processo é garantia contrajurisdicional para as partes[75], é perfeitamente possível que elas modulem o procedimento mediante negócios jurídicos procedimentais, aliás sem concurso do juiz (art. 190). Apenas no caso de calendarização, que sempre envolve as possibilidades da unidade judiciária, o juiz atua em conjunto com as partes (art. 191)[76]. Curioso notar que modificações drásticas escapam ao controle de conveniência do juiz, prestigiando a liberdade das partes e tornando a positividade infraconstitucional em tudo consentânea com a compreensão do processo como garantia contrajurisdicional das partes.
Segundo, o art. 139, VI, CPC[77], autoriza o juiz a dilatar prazos e alterar a ordem de produção de provas, encerrando, em alguma medida, flexibilização procedimental. A regra resiste ao filtro de constitucionalidade desde que compreendido de acordo com a garantia do devido processo legal, isto é, no sentido de ampliar a liberdade das partes e permitir o exercício efetivo das suas garantias processuais. No mais das vezes, é o que sucede com a dilatação dos prazos. Quanto à alteração da ordem de produção das provas, não deve ser efetivada a contragosto das partes. Se estas concordarem em manter o roteiro legal este haverá de ser seguido.
Em suma, a possibilidade de o juiz flexibilizar o procedimento torna o interrogatório livre inconstitucional por violação do devido processo legal, da legalidade, da segurança jurídica e do regime Democrático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se ter demonstrado que depoimento de parte e interrogatório livre não são institutos distintos. Há uma unidade ontológica entre eles. São uma só coisa: oitiva de parte. A diferença é meramente semântica. São nomes diferentes dados à mesma coisa. É falsa distinção. Mero jogo de palavras despido de variedade conteudística minimamente consistente.
Falar em interrogatório livre e depoimento de parte é a mesma coisa que se referir à bola utilizada no jogo de futebol como “redondinha” ou “pelota”. São significantes dotados do mesmo significado.
Bem pensadas as coisas, então, não parece justo com o ornitorrinco fazer uma metáfora dele com o interrogatório livre. Diferentemente deste, o simpático mamífero da fauna australiana tem existência própria, embora reúna características semelhantes às de outros animais. Parece pato, mas não é. Parece peixe, mas não é. É o que é: um ornitorrinco. Um animalzinho peculiar, mas que existe autonomamente. Num jogo de linguagem compartilhada corrente, apontar para um animal e chamá-lo de peixe ou pato jamais informará aquilo que se conhece por ornitorrinco. Só por pacto semântico prévio se poderia chegar a isso. O interrogatório livre não ostenta semelhante existência autônoma. É depoimento de parte à capucha. É meio de prova disfarçado de poder do juiz que lhe permite modificar o procedimento quanto e quantas vezes quiser, tudo incompatível com a natureza jurídico-constitucional de instituição de garantia contrajurisdicional do processo. Deixemos o ornitorrinco fora dessa, portanto.
À guisa de analogia, interrogatório livre e depoimento de parte não chegam sequer a ser gêmeos xifópagos. A oitiva de parte encontra melhor imagem em alguém que sofre de transtorno bipolar. Uma pessoa, duas personalidades. E tal qual aquele que padece do referido transtorno psíquico, a oitiva de parte deve ser submetida a um tratamento constitucional(izante) capaz de expurgar-lhe os resquícios autoritários que resistem aos ventos democráticos. É precisamente isto: a oitiva de parte sofre de dupla personalidade; é democrática e autocrática; é depoimento de parte e interrogatório livre. Há que livrá-la de sua faceta despótica, garantindo-lhe a subsistência apenas do que é conforme a Constituição e lhe dá lugar na ordem jurídica brasileira.
O interrogatório livre é inconstitucional e deve ser abolido do direito brasileiro, remanescendo a única faceta de oitiva de parte que resiste ao filtro da Constituição: o depoimento de parte (art. 385 e ss., CPC). Este também tem seus problemas, mas isso é para outra ocasião[78].
Notas e Referências
[1] “Decididamente, ciência do processo não é “livre projeto”, “artifício intelectual”, “ponto de vista”. Tampouco se trata de um Ouroboros circularmente auto-fundante. A processualística, ainda que disponha de rico sistema de categorias fortemente estruturado, é cega se antes não esclarece suficientemente o “ser constitucional” do processo e se não compreende esse esclarecimento como tarefa fundamental”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. O Processo como Instituição de Garantia. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia. Acessado em 09.03.2019).
[2] “afinal, é tratado no título sobre direitos e garantias fundamentais [CF, Título II], não nos títulos sobre a organização do Estado [CF, Títulos III et seqs.]. Mais: processo é instituição de garantia de liberdade (pois regulado no Capítulo I do Título II, que cuida dos direitos fundamentais de primeira geração), não de igualdade (que é vetor que regula o Capítulo II do Título II, que cuida dos direitos fundamentais de segunda geração); presta-se, enfim, a resguardar a liberdade das partes em relação ao Estado-juiz, não a igualdade entre elas”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. O Processo como Instituição de Garantia. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia. Acessado em 09.03.2019).
[3] “Tanto o liberalismo quanto o garantismo pregam, por exemplo, a impossibilidade de o juiz - de modo oficioso e unilateral - decidir fora da lei, desvincular-se dos pedidos formulados pelas partes, decidir com base em fundamento não invocado pelas partes, ignorar os argumentos invocados pelas partes, ordenar prova, prestar tutela jurisdicional, dinamizar os ônus probatórios. Não se pode esquecer, porém, que o garantismo e o liberalismo são sistemas socioculturais com premissas e bases metodológicas distintas entre si. Como já dito, o garantismo é uma teoria jurídico-dogmática: procura refundar o processo como uma instituição garantística de direito público material constitucional e, com isso, proteger os jurisdicionados contra eventuais abusos cometidos pelos exercentes da função jurisdicional. Já o liberalismo processual é um modelo político-ideológico, que projeta as suas ideias-força sobre o processo, plasmando um modelo privatista, mandevilliano e, portanto, adversarial. Logo, o «e» que aproxima o liberalismo do garantismo não exprime «determinação». O primeiro não é «causa direta» do segundo. O segundo não «deriva» do primeiro. Na verdade, o que há entre um e outro são várias «equivalências» ou «parentescos de propostas» e, por conseguinte, uma «atração recíproca», que os sociólogos da cultura - inspirados na obra de J. W. VON GOETHE - chamam de «afinidades eletivas» [Wahlverwandschaften] (v., p. ex., LÖWY, Michael. Redenção e utopia. trad. Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 17 e ss.). Liberalismo e garantismo ocupam zonas epistemológicas distintas entre si, embora muitas vezes se reforcem, se alimentem e se estimulem reciprocamente, como autênticos «parceiros espirituais». Ou seja, entre eles há inúmeras correspondances baudelairianas, que muito se assemelham a uma «analogia», uma «homologia», um «isomorfismo estrutural». Todavia, não há aí uma «plenitude de correspondências»: a) para o liberalismo processual, o processo é coisa privada das partes, que ali duelam com autonomia individual total, sem qualquer marco regulatório fixado pela lei ou pelo juiz [laissez-faire processual]; b) por sua vez, para o garantismo processual, o processo é coisa pública para as partes (afinal, é garantia constitucional), que debatem sob uma heteronomia regulatória legal, ou seja, dentro de marcos procedimentais rígidos fixados pela lei e garantidos pelo juiz [ne-laissez-pas-faire processual]. Talvez sejam essas as differentiæ specificæ entre uma coisa e outra. Isso já mostra a imprecisão de BARBOSA MOREIRA ao se referir ao garantismo processual como um «neoprivatismo» (O neoprivatismo no processo civil. RePro 122, p. 9-21). Um genuíno garantista não confunde o público com o pró-estatal; por isso, divisa no processo a res publica que serve às partes e, por correlação, desserve ao Estado quando este exerce com arbítrio a função jurisdicional. Daí por que o garantismo não se reconhece na oposição diametral «privatismo vs. publicismo». O «privado» do processo é a sua função: privado é sinônimo de particular, do latim particularis, adjetivo derivado de particula, diminutivo de pars, partis, que significa parte; portanto, o processo cumpre a sua função «privatista» quando atende às partes, protegendo-as. Por sua vez, o «público» do processo é a sua estrutura: ele se concretiza num procedimento em contraditório, de instauração obrigatória, instituído por normas editadas pelo Poder Legislativo (daí a expressão «devido processo legal»)” Serve ao jurisdicionado para conter os abusos do poder”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Garantismo, Liberalismo e Neoprivatismo. Revista Eletrônica Consultor Jurídico. In: http://emporiododireito.com.br/leitura/garantismo-liberalismo-e-neoprivatismo. Acessado em 09.03.2019).
[4] Daí ser correta a dura crítica de Eduardo José da Fonseca Costa às correntes ativistas: “Entrementes, muitas as correntes dogmáticas desencaminhadas, que inconfessadamente desenraízam o processo da Constituição e o envolvem em sobrecargas inconvenientes, esfumaçando-lhe seu “ser constitucional” e, portanto, sua institucionalidade garantística (a pior delas no país é a “instrumentalidade do processo”, fundada num princípio epocal mântrico sem qualquer consistência positivo-constitucional, que reduz o processo a mero “artefato para boas intenções” e que tem servido como fonte de compreensão e racionalidade de qualquer manifestação no universo processual). Nesse sentido, toda processualística deve ser uma “revelação-destruição”: explicitando hermeneuticamente o processo como estrutura de garantia das partes, demole criticamente a dissimulação do processo como mero “utensílio do juiz”. Isso mostra que, em última análise, a disputa entre o ativismo (que é uma teoria utensiliar) e o garantismo (que é uma teoria não-utensiliar) é disputa — parafraseando Heidegger — entre velamento [Verborgenheit] e desvelamento [Unverborgenheit], entre ocultação [Verdecktheit] e desocultação [Unverdecktheit] (sobre o debate entre garantismo e ativismo: Ramos, Glauco Gumerato. Ativismo e garantismo no processo civil. Ativismo judicial e garantismo processual. Coord. Fredie Didier Jr. et al. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 273-86). Em termos mais oblíquos: a dimensão historial das doutrinas ativistas é um exercício renitente de esquecimento do “ser constitucional” do processo. Importante destacar que esse esquecimento não é propriamente distração, mas indiferença, que por desdém dá a institucionalidade garantística do processo como impensado e que se abandona nesse impensamento (o que explica, por exemplo, por que os ativistas não citam os garantistas e não dialogam criticamente com seus argumentos, caindo na tentação a-científica da pregação apologética). Daí por que há certa tensão entre o constitucional (que engloba e quer determinar) e o processual (que se isola e quer independentizar-se ou apoiar-se em exterioridades não jurídicas). O constitucional avançando para hetero-fundar o processual; o processual recuando para autofundar-se ou fundar-se em extrajuridicidades não constitucionais (geralmente ideologias, interesses, alienações, repressões, teologias, versões de mundo, que intrusivamente ocupam a suprema posição fundante que deveria caber à Constituição). Aliás, é cada vez mais rara uma ciência processual concentrada recursivamente em si mesma. Em regra, projetos políticos não positivados se transmudam em “fontes de compensação” [Ersatzquellen] pelo menosprezo à Constituição. Não sem razão os três principais tipos de ativismo se ligam a três grandes credos estatistas: 1) o fascismo processual (do juiz-linha-dura); 2) o socialismo processual (do juiz-Robin-Hood); 3) o social-liberalismo processual (do juiz-gerente ou managerial judge) (para um aprofundamento dessa tipologia, meu Los criterios de la legitimación jurisdiccional según los activismos socialista, fascista y gerencial. RBDPro 82/205-16). Todavia, o aludido menosprezo é velado: por meio de uma “acrobacia retórica”, o ativista desempenha “contorcionismos argumentativo-circenses”, geralmente repletos de piruetas pamprincipiológicas, para desfocar a inconstitucionalidade palmar de suas intenções. Não se é de estranhar que hoje, no Brasil, a melhor crítica anti-ativista provém da ala crítico-hermenêutica dos constitucionalistas (Lênio Streck, Maurício Ramires, Francisco Motta, Georges Abboud, etc.), os quais dispõem do aporte metodológico adequado para identificar e delatar essas imposturas”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. O Processo como Instituição de Garantia. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia. Acessado em 09.03.2019.)
[5] BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 7ª ed. Revista dos Tribunais. 2013, p. 70.
[6] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. V.1. 2ª ed. Revista dos Tribunais. 2016, p. 150-151.
[7] AULIO, Rafael Stefaninni. O Modelo Cooperativo de Processo Civil no Novo CPC. Jus Podivm. 2017, p. 51 e ss. O trabalho é emblemático por várias razões, particularmente: (i) é versão comercial de dissertação de mestrado defendida e aprovada junto ao departamento de direito processual da faculdade de direito do Largo São Francisco, epicentro do instrumentalismo processual no Brasil; (ii) foi orientado por Cândido Rangel Dinamarco, figura mor do instrumentalismo processual no Brasil; (iii) seu o capítulo II é dedicado a demonstrar justamente “A Instrumentalidade como Fundamento de um Processo Civil Cooperativo” (p. 25 e ss.). De modo que ficam muito claramente postos os vínculos entre instrumentalismo processual e cooperação processual. Em tempo, para notas críticas da “teoria geral do processo” criada na USP, ver, por todos: SILVEIRA, Marcelo Pichioli da. Ciência processual e ciência jurisdicional. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 104, out./dez. 2018.
[8] Em sentido contrário, sustentando distinções fundamentais entre o formalismo-valorativo e o instrumentalismo processual, conferir: ZANETI JR., Hermes. MADUREIRA, Cláudio Penedo. Formalismo-Valorativo e o Novo Processo Civil. Revista de Processo. vol. 272. Out. 2017. Versão Eletrônica. Com o intuito de extremar os referidos modelos epistemológico-processuais, os autores listam algumas características, dentre as quais: (a) o instrumentalismo (a.i) é o modelo adequado ao Estado de Direito tradicional e (a.ii) nele o processo civil está em pé de igualdade com a Constituição, insistindo-se nos valores da doutrina clássica e na preservação de uma esfera de autonomia teórica em relação ao direito constitucional e buscando-se realizar, no processo, escopos metajurídicos (social e político), considerados externos, mesmo que relevantes; (b) o formalismo valorativo é (b.i) o modelo adequado ao Estado Democrático Constitucional (e ao novo conceito de legalidade, direito e jurisdição que lhe são correlatos) e (b.ii) nele prevalece a constitucionalização do processo (unidade narrativa da constituição em todo ordenamento jurídico, isto é, a Constituição é o fundamento formal e material de validade de todas as normas processuais), inexistindo qualquer óbice formal ou teórico à releitura das normas processuais a partir do texto constitucional. De largada, a análise de (a) e (b) conduz à impressão de que os autores defendem a incompatibilidade do modelo instrumentalista com a Constituição. Curiosamente, porém, não o fazem. De resto, o fato é que o texto não logra desatar os elos de imbricação entre as referidas epistemologias processuais. Ademais, as diferenças apontadas – se é que existem e procedem – circunscrevem-se ao âmbito da teoria do direito (particularmente, ao plano das teorias das fontes, da norma e da interpretação). Diferenças no plano dos fenômenos processual e procedimental, propriamente ditos, não há. Bem ao contrário, a leitura de autores instrumentalistas e cooperativistas revela semelhanças profundas nos seus modos de compreender a divisão de trabalho entre as partes e o juiz, ambos nutrindo leituras muito próximas – para não dizer idênticas – da relação teleológica entre processo e jurisdição, como se pôde ver nas notas de rodapé 8, 9 e 10, acima. De resto, os autores consignam expressamente que “Bedaque não vê oposição entre essa proposição do Formalismo-Valorativo e as premissas e técnicas de atuação do Instrumentalismo. Em suas próprias palavras: “A ideia, hoje sustentada por boa parcela da doutrina, a respeito da importância da cooperação entre os sujeitos do processo, está presente na visão instrumentalista. Para o idealizador da perspectiva teleológica, instrumentalista, a efetividade do processo depende fundamentalmente da garantia de participação de todos, inclusive do juiz, com observância do contraditório” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Instrumentalismo e garantismo: visões opostas do fenômeno processual? cit. p. 6). Disso resulta a sua advertência no sentido de que é equivocada a afirmação da “suposta despreocupação do instrumentalismo com os destinatários da tutela jurisdicional”, que não são “colocados em situação de meros expectadores da atividade judicial”; enfim, no Instrumentalismo, “jamais se defendeu a ideia de efetividade sem considerar a participação dos sujeitos parciais do processo na formação do convencimento do juiz”. Essa transcrição deixa ainda mais evidente que tais autores têm a mesma concepção de fundo sobre o processo. Portanto, se há algo que o texto de Hermes Zaneti Jr. e Cláudio Penedo Madureira consegue fazer, em termos processuais e procedimentais, é escancarar a profunda identidade entre formalismo-valorativo e instrumentalismo processual, não suas diferenças.
[9]“A maioria dos países ocidentais consagra o devido processo legal como garantia constitucional, o que possibilita um código teórico-linguístico homogeneizado e, portanto, um intercâmbio transnacional entre os seus juristas. Mas onde o processo for instrumento de poder ex vi constitutionis, ali o garantista só poderá lastimar – porque ciente dos males do instrumentalismo processual – e restringir-se a considerações de iure condendo. Nesse sentido, o garantismo é uma teoria positivista (conquanto se possa cogitar, por exemplo, de um «garantismo jusnaturalista», que divise afronta à «natureza das coisas» em toda constituição que tente privar o processo de sua «essência garantista»). Por conseguinte, a rigor, não há «o» garantismo universal, mas os garantismos nacionais (brasileiro, argentino, peruano etc.): ele se faz para cada sistema constitucional positivo que institua a garantia do due process of law”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Breves Meditações Sobre o Devido Processo Legal. In: http://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-15-breves-meditacoes-sobre-o-devido-processo-legal. Acessado em 09.03.2019).
[10] Eduardo José da Fonseca Costa aponta duas garantias arquifundamentais do processo: (i) não-criatividade judicial e (ii) imparcialidade. A propósito, conferir: COSTA, Eduardo José da Fonseca. As Garantias Arquifundamentais Contrajurisdicionais: não-criatividade e imparcialidade. In: http://emporiododireito.com.br/leitura/as-garantias-arquifundamentais-contrajurisdicionais-nao-criatividade-e-imparcialidade. Acessado em 09.03.2019.
[11] COSTA, Eduardo José da Fonseca. O Processo como Instituição de Garantia. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-costa-processo-instituicao-garantia. Acessado em 09.03.2019.
[12] “[há] um gravíssimo vezo no domínio do direito processual notabilizado por uma espécie de miscelânea retórico-argumentativa cada vez mais comum hodiernamente. É que a construção teórica e legislativa segue sendo forjada segundo miradas cujo compromisso capital está sobretudo no apoderamento judicial, em desprezo à gênese que caracteriza mais de perto a instituição que é o processo. O estrago causado por esse tipo de postura tem se pronunciado dia a dia na praxe forense e ajuda a desvelar por qual razão o Direito é cotidianamente depredado por arbitrariedades de toda sorte. Não que seja uma obviedade facilmente percebível, pois desponta tão-somente a partir de um doloroso empenho de des-vivicação da própria experiência de mundo na qual todos estamos mergulhados. Por aqui há tempos o paroquialismo doutrinário fez soberano o ensino do direito processual encimado em bases publicistas (ou hiperpublicistas), cujas elaborações téorico-conceituais privilegiam exatamente uma compreensão que prima a jurisdição pela superioridade. A diluição do processual pelo jurisdicional é um fenômeno deveras real, uma promiscuidade oriunda de pré-juízos que se enraizaram na tradição jurídica pela labuta impactante e serial da dogmática durante longo trajeto histórico, a ponto de fazer com que antevejamos o processo por uma via de pensamento profundamente aferrada à perspectiva da atividade jurisdicional e dos seus (denominados) escopos sociais, políticos e jurídicos. Grosso modo, ecoa de ponta a ponta no País o mantra: o processo é de somenos importância, ancilar e subserviente, mero instrumento a serviço da jurisdição. Já é hora, pois, de desvelar e destruir algumas compreensões alcançadas no interior da tradição e que foram se sedimentando até constituírem o comportamento assumido de modo geral pelos profissionais do direito na atualidade. Algo como tomar "pílula vermelha", expandir a percepção a fim de enriquecer horizontes em socorro ao conhecimento do processo tal como ele é. Não por deleite teórico, vaidades ou coisas do gênero, mas porque só assim se dará o giro paradigmático, passo absolutamente necessário para salvaguardar teoria e prática processuais da baixa constitucionalidade na qual se encontram atoladas.” (DELFINO, Lúcio. Como construir uma interpretação garantista do processo jurisdicional? Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 258, n. 98, 2017).
[13] “Obtusamente, contudo, o ativismo judicial dissolve o processo (que é garantia) na jurisdição (que é poder), como se o processo fosse a própria jurisdição-funcionalmente-manifestada. Fá-lo perder a própria autonomia ôntica, dando o direito processual lugar a um disforme “direito jurisdicional”. Daí dizer a intelligentsia ativista que o papel precípuo do processo é a realização do direito material. Sem razão, entretanto. Lembre-se: na “jurislação”, o direito é criado; na jurisdição, o direito é aplicado por terceiro imparcial; na administração, o direito é aplicado pela própria parte ou por terceiro não imparcial. Com isso se vê que, na realidade, o que está a serviço da realização do direito material é a jurisdição, não o processo: ao processo cabe “apenas” cuidar para que essa realização não deslize em abusividades. Decididamente, o exercício da jurisdição radica no processo e não o contrário”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. O Processo como Instituição de Garantia. Revista eletrônica Consultor Jurídico, 16/10/2016. Disponível em: www.conjur.com.br. Acessado em 09.03.2019).
[14] COSTA, Eduardo José da Fonseca. Processo, Jurisdição e República: ao ensejo do 129º aniversário da República. Revista eletrônica Empório do Direito. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-61-processo-jurisdicao-e-republica-ao-ensejo-do-129-aniversario-da-proclamacao-da-republica. Acessado em 09.03.2019.
[15] COSTA, Eduardo José da Fonseca. Notas para uma Garantística. Revista eletrônica Empório do Direito. In: http://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-40-notas-para-uma-garantistica. Acessado em 09.03.2019.
[16] COSTA, Eduardo José da Fonseca. Garantia de Liberdade [Freedom] e Garantia de «Liberdade» [Liberty]. Revista eletrônica Empório do Direito. In: https://emporiododireito.com.br/leitura/processo-garantia-de-liberdade-freedom-e-garantia-de-liberdade-liberty. Acessado em 09.03.2019.
[17] ROSA, Alexandre Morais da. Teoria dos Jogos e Processo Penal. A short introduction. 2ª Ed. Empório Modara. 2017, p. 91 e ss.).
[18] COSTA, Eduardo José da Fonseca. Garantia de Liberdade [Freedom] e Garantia de «Liberdade» [Liberty]. Revista eletrônica Empório do Direito. In: https://emporiododireito.com.br/leitura/processo-garantia-de-liberdade-freedom-e-garantia-de-liberdade-liberty. Acessado em 09.03.2019.
[19] Sobre a garantia da imparcialidade, conferir: COSTA, Eduardo José da Fonseca. Levando a imparcialidade a sério: proposta de um modelo interseccional entre direito processual, economia e psicologia. Jus Podivm. 2018; COSTA, Eduardo José da Fonseca. SOUSA, Diego Crevelin. Novo Código de Processo Civil Comentado. Novo Código de Processo Civil Comentado. Coords. Sérgio Luiz Almeida Ribeiro. Roberto P. Campos Gouveia Filho. Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Lúcio Grassi Gouveia. Tomo I. Lualri Editora. 2017, págs.183-244; NUNES, Dierle. LUD, Natanael. PEDRON, Flávio Quinaud. Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais. Um estudo sobre os vieses cognitivos, a mitigação de seus efeitos e o debiasing. Jus Podivm. 2018.
[20] A propósito, conferir, por todos: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O Juiz e o Contraditório. Revista de Processo, Revista dos Tribunais Online, v. 71, p. 31, jul./1993; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do Formalismo no Processo Civil. Proposta de um formalismo-valorativo. 3ª ed. Saraiva. 2009; ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do Processo. 2ª Ed. Atlas, 2014, p. 179 e ss.; MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil. Pressupostos sociais, lógicos e éticos. RT. 2009, p. 78 e ss.; CABRAL, Antonio do Passo. Princípio do Contraditório. In: Dicionário de Princípios Jurídicos. Organizadores. Ricardo Lobo Torres, Eduardo Takemi Kataoka, Flávio Galdino. Supervisora Silvia Faber Torres. Elsevier. 2011, p. 193-210; LEAL, André Cordeiro. O Contraditório e a Fundamentação das Decisões no Direito Processual Democrático. Mandamentos. 2002; NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Uma análise crítica das reformas processuais. Juruá. 2008, p. 212 e ss.
[21] MITIDIERO, Daniel. MITIDIERO, Daniel. Colaboração no Processo Civil. Pressupostos sociais, lógicos e éticos. RT. 2009, p. 69.
[22] Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. § 1o Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. § 2o É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. § 3o O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Art. 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará, na sentença, se houve recusa de depor. Art. 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Art. 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos: I - criminosos ou torpes que lhe forem imputados; II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; III - acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível; IV - que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso III. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de estado e de família.
[23] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso.
[24] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Direito Processual Civil. V.2. RT. 2015, p. 330.
[25] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. 2ª ed. RT, 2011, p. 388.
[26] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 3ª ed. RT. 2015, p. 432.
[27] Sistematização feita a partir de: MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 3ª Ed. RT. 2015, p. 432-433.
[28] Arruda Júnior, Gerson Francisco de. 10 Lições Sobre Wittgenstein. Vozes. 2017, p. 74 e 89. No que tange a rejeição de uma essência da linguagem, definidora em abstrato do seu sentido, adverte Gerson Francisco de Arruda Júnior sobre a pragmática wittgensteiniana: “aquilo que é suposto encontrarmos no fundamento dos jogos que constituem a linguagem é o agir humano e, por isso, a pura factualidade das ações humanas é a própria “condição última” de justificação de uma prática do fenômeno linguístico, dado que se admite ser impossível encontrar um fundamento ulterior para os comportamentos comuns da humanidade” (cit, p. 78-79).
[29] Demonstrando que os jogos de linguagem são permeados por zonas regradas e zonas não regradas, escreve Ludwig Wittgenstein: “Mas então o emprego da palavra não está regulamentado; o ‘jogo’ que jogamos com ela não está regulamentado. Ele não está inteiramente limitado por regras; mas também não há nenhuma regra no tênis que prescreva até que altura é permitido lançar a bola nem com quanta força; mas o tênis é um jogo e também tem regras”. Na esteira dessas lições, Alexandre Morais da Rosa sublinha a falácia da linearidade do jogo probatório, aí incluída a oitiva da parte: “a dinâmica caótica do processo impede a linearidade. (...) A teoria da história mostra que fatos tidos como verdadeiros são controvertidos e que a versão oficial pode se distanciar no que de fato ocorre, embora nunca se possa colocar-se a ultima e definitiva versão. É claro que o processo ao ser aparentemente retrospectivo implica na escolha dos elementos mais interessantes, os quais restam sublinhados. Sempre, contudo, são parciais e representam interesses não ditos. É nos jogos de linguagem que o significante probatório ganhará sentido no contexto em que é invocado”. (ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do Processo Penal Conforme a Teoria dos Jogos. 2ª Ed. Lumen Juris. 2014, p. 184).
[30] Egas Dirceu Moniz de Aragão não esconde que o interrogatório livre pode influir até inconscientemente na convicção do juiz, ou, nas suas palavras, de modo imponderável e imprevisível: “na lei italiana o juiz é autorizado a ‘extrair argumentos de prova (…) em geral, do comportamento das próprias partes no processo’ (art. 116), norma que este Código não reproduz. Mas é certo que da conduta da parte é possível extrair argumentos de prova tal como preceitua a lei italiana, com o que ela influenciará a formação do juízo do magistrado à hora de proferir a sentença, influência de todo imponderável e imprevisível” (apud., MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 3ª ed. RT, 2015, p. 444). Na mesma linha, com mais contundência: “Ninguém duvida que o magistrado vá extrair elementos de convicção do interrogatório, pois é algo que se opera no plano psicológico (inconsciente), não havendo qualquer controle humano – do magistrado – no particular.” (PEREIRA, Mateus Costa. Código de Processo Civil Comentado. Coordenador Helder Moroni Câmara. Almedina. 2016, p. 218). De modo condizente com o ora afirmado, Alexandre Morais da Rosa anota: “Relembre-se, ainda, que há intersecção do inconsciente na produção probatória, uma vez que se vincula à subjetividade dos atores envolvidos, das testemunhas, e o que ocorre numa sala de audiências, os chistes, os atos falhos, os lapsos – onde surge a verdade, diz a psicanálise –, raramente ficam consignados, mormente porque tudo, em regra, é ditado pelo juiz, modificando (in)conscientemente os (con)textos. Quem sabe um pouco de retórica, pode movimentar habilmente os significantes para os postar de forma a serem úteis, depois, na decisão (Brum), mormente se as posições de acusador e defensor se imbricam, bem como se a (impossível) ‘Verdade Real’ ainda move a produção probatória. Além disso, sabe-se, existe toda dimensão do ‘desejo’ de quem pergunta e responde, acrescida, por outro lado, de um complexo processo de ‘transferência’ entre os enleados no processo, já que “ao analisar um depoimento, [o juiz] deixa-se influir, inconscientemente, por fatores emocionais de simpatia, de antipatia, que se projetam sobre as testemunhas, os advogados e as partes”. (ROSA, Alexandre Morais da. Decisão no Processo Penal como Bricolage de Significantes. Data da defesa: 21/12/2004. 434f. Tese (doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004, p. 328).
[31] Claro, é possível problematizar a questão: se se admitir a eficácia civil da garantia de não provar contra si, seria fora de dúvida a sua eficácia no bojo do depoimento de parte (a recusa em responder pergunta capaz de conduzir à confissão não poderia ser valorada contra o depoente), mas certamente haveria divergência em relação ao interrogatório de parte. Não é despropositado supor que alguns repeliriam a eficácia da garantia sob o argumento de que tal forma de oitiva busca apenas esclarecimentos, informações sem valor probatório. Nesse caso, o silêncio da parte poderia ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e punido com multa. Suponhamos, então, que o juiz tenha designado interrogatório livre e ali obtido confissão, inclusive admoestando a parte a responder, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Mesmo em tal caso a confissão não seria passível de anulação? Seja qual for a resposta, o que se pretende é apenas deixar claro que também esse problema sequer existiria não fosse a malfadada pretensão de discernir a oitiva de parte entre interrogatório livre e depoimento de parte – como, de resto, inexiste no procedimento penal, onde tudo se resolve em interrogatório (art. 185 e ss., CPP). Destarte, não se trata – a distinção – de inútil ficção, mero terreno de mi(s)tificações, mas de potente fertilizante de problemas.
[32] DIDIER JR, Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria. BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil. V.2. 10ª ed. Jus Podivm. 2015, p. 151.
[33] AMENDOEIRA JR, Sidnei. Depoimento Pessoal e Confissão no Novo CPC. Coleção Grandes Temas do Novo CPC. V.5. Coords. Marco Félix Jobim. William Santos Ferreira. Jus Podivm. 2015, p. 698.
[34] A propósito do conceito e da finalidade do depoimento da parte, escreveu Pontes de Miranda: “Depoimento da parte. Depoimento da parte, depoimento pessoal, é o conjunto de comunicações (julgamento de fato) da parte, autor ou réu, para dizer o que sabe a respeito do pedido, ou da defesa, ou das provas produzidas ou a serem produzidas, como esclarecimento de que se sirva o juiz para o seu convencimento . É erro definir-se o depoimento pelo resultado eventual de conter confissão. Nem sempre isso ocorre, nem sempre, ao requerê-lo, é intuito da parte adversa, ou do juiz, ou dos interessados na demanda, mesmo curadores, provocar a confissão. Não raro só se pretende captar, com precisão, o conteúdo de alguma afirmação, inserta no pedido, ou posteriormente, de relevância para a decisão, sem o caráter de concordância com as afirmações da parte adversa. A pena de confesso, com que se determina o depoimento da parte, funciona como sanção pelo não-comparecimento, e não como finalidade do depoimento”.(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil. T. IV. Forense. 2001, p. 141).
[35] DIDIER JR, Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria. BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil. V.2. 10ª ed. Jus Podivm. 2015, p. 151.
[36] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Direito Processual Civil. V.2. RT. 2015, p. 442.
[37] Do ponto de vista ontológico, a diferenciação de depoimento de parte e interrogatório livre é tão ociosa – e impossível – quanto aquela entre impedimento e suspeição. Assim como interrogatório livre e depoimento pessoal são oitiva de parte, o juiz é igualmente parcial quando age impedido ou suspeito, sem qualquer gradação abstrata possível que extreme um e outro. A propósito, já se escreveu: “nada justifica a tese de um pretenso grau de gravidade entre as causas de impedimento ou suspeição. Para que isso fosse correto deveria estar presente em todas as comparações entre as hipóteses de impedimento e suspeição, o que não ocorre. Por exemplo: ninguém é capaz de justificar convincentemente por que o fato de o juiz litigar contra uma das partes (hipótese de impedimento – art. 144, IX, CPC) é mais grave que a circunstância dele ser credor ou devedor de uma delas (hipótese de suspeição – art. 145, III, CPC). Ademais, também é falsa a tese de que as hipóteses de impedimento apresentam maior dose de objetividade. Se em alguns casos isso é verdade – por exemplo: há mais singela a constatação do estado civil de casado (hipótese de impedimento – art. 144, IV, CPC) do que da relação de amizade/inimizade (hipótese de suspeição – art. 145, I, CPC) do juiz com uma das partes –, noutras não é o que ocorre – por exemplo: é tão objetivamente demonstrável a condição de credor ou devedor do juiz em relação às partes quando a obrigação está vertida em título executivo (hipótese de suspeição – art. 145, III, CPC), quanto a condição de litigante contra a parte (hipótese de impedimento – art. 144, IX, CPC). Além disso, a mesma hipótese ora é tratada pelo legislador como causa de impedimento, ora como causa de suspeição – por exemplo: o fato de ser o juiz herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de uma das partes, era hipótese de suspeição no CPC/73 (art. 135, III), mas é hipótese de impedimento no CPC/15 (art. 144, VI). De modo que todas essas construções de possíveis diferenças entre as hipóteses de suspeição e impedimento constituem caricaturas. Reitere-se que ambas possuem natureza jurídica de pressuposto processual de validade. Portanto, na verdade, “a distinção entre as hipóteses de impedimento e de suspeição, assim, resulta simplesmente da opção de política legislativa e não é informada por um critério lógico”. Os parágrafos 5º, 6º e 7º do art. 146, CPC, prescrevem que impedimento e suspeição, indiscriminadamente, acarretam as mesmas consequências: (i) condenação do juiz ao pagamento de custas, (ii) nomeação do substituto legal, (iii) definição do momento a partir do qual o juiz não poderia atuar e (iv) anulação dos atos praticados nesse período. Tudo isso reforça o acerto do raciocínio segundo o qual inexiste qualquer diferença ontológica entre as hipóteses de impedimento e suspeição. A única diferença entre as figuras consiste no fato de que a decisão proferida por juiz impedido é rescindível (art. 966, II, CPC), enquanto aquela proferida por juiz suspeito, não; quando a esta, deve ser arguida em 15 dias a contar do conhecimento da sua causa, sob pena de preclusão (art. 146. caput, CPC). Respeitadas essas únicas diferenças, cujas consequências não são de modo algum triviais, todo o resto não passa de caricatura. Exatamente por isso dissemos que, comprovada a hipótese legal de impedimento ou suspeição, presume-se, objetivamente, a parcialidade do juiz (=isto é, sem investigar se ele está efetivamente inclinado em favor/contra uma das partes) e nomeia-se o substituto legal para assumir a presidência do processo”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. SOUSA, Diego Crevelin de. Novo Código de Processo Civil Comentado. Tomo I. Coordenadores Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro. Roberto P. Campos Gouveia Filho. Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Lúcio Grassi de Gouveia. Lualri Editora. 2017, p. 218-219). Sabe-se, de antemão, quais são as hipóteses de impedimento. Nada que acontecer no caso concreto poderá alterar o enquadramento da espécie de impedimento para suspeição – ou vice-versa. Diferentemente, não é possível saber ex ante se a oitiva da parte efetivamente constitui investigação probatória ou simples busca de aclaramento, isto é, se é depoimento de parte ou interrogatório livre. Apenas ao cabo da oitiva será possível saber como o juiz valorou a espécie. Para piorar, nada impede que se entenda que onde o juiz interpretou clarificação haja meio de prova – e vice-versa.
[38] VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 5ª ed. Noeses. 2015, p. XV.
[39] Noutra oportunidade já se ponderou que a aplicação da confissão ficta com fulcro no art. 386, CPC, não pode se dar sem a prevenção da parte, de sorte a evitar decisão surpresa, em violação do art. 10, CPC, e art. 5º, LV, CRFB: “Vale dizer, se ao magistrado parecerem evasivas as respostas do depoente, cumpre informá-lo dessa impressão, advertindo que, a seguir por essa trilha, poderá sofrer a cominação. Aí sim, mantida a postura fugidia, será válida (e legítima) a aplicação da confissão ficta. (...) [deve-se] informar a parte para permitir que reaja no sentido de esclarecer o mal entendido ou empreender melhor postura, assegurando influência na formação do provimento e evitando a surpresa de ter a cominação aplicada sem qualquer indicativo prévio e inequívoco de que o juiz reputava as respostas evasivas. Destarte, se o juiz reputar evasivas as respostas do depoente, terá de adverti-la, na audiência, dessa impressão, reiterando a advertência do art. 385, § 1º, CPC, sob pena de nulidade da decisão que aplicar a cominação de confissão ficta”. (SOUSA, Diego Crevelin de. Novo Código de Processo Civil Comentado. Coordenadores. Sérgio Luiz Almeida Ribeiro. Roberto P. Campos Gouveia Filho. Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Lúcio Grassi Gouveia. Tomo II. Lualri Editora. 2017, págs. 137-138).
[40] Como bem lembrado por Lúcio Delfino, em conversa mantida pelo aplicativo Telegram, é o que ocorre com a citação, que, embora instituto único, possui regimes eficaciais distintos, podendo ser real (por carta ou mandado) ou ficta (por edital), e aptidão para produzir revelia (citação nos casos que envolvem direitos disponíveis) ou não (casos que envolvem direitos indisponíveis). Nenhuma dessas variáveis muda o que seja a citação.
[41] Não quer dizer que o interrogatório livre sempre será fundamento da convicção do juiz. Aliás, não se pode pensar no plano da eficácia para definir o plano da existência. Em outras palavras, não se diz que algo tem natureza ou função probatória porque, em concreto, serviu para conformar a convicção do juiz. O status de elemento ou de função de prova antecede a eficácia probante. O que é prova se define em abstrato (existência). O que provou se define em concreto (eficácia). Uma testemunha não deixa de ter natureza de fonte de prova porque, em concreto, em nada influiu no convencimento do juiz. Aqui, a testemunha foi prova sem eficácia probante.
[42] O que não quer dizer que, na prática, a ausência ou a recusa a responder no interrogatório livre não será, de algum modo, valorada pelo juiz, inclusive contra o interrogando. Não que isso seja correto nem que deva ser assim. Não deve ser (no sentido de ser lícito). Mas é (no sentido de que acontece). Nessa perspectiva, falando do interrogatório no processo penal, Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Jr destacam os riscos do silêncio do acusado, mesmo sendo corolário do direito fundamental à presunção de inocência: “Por mais que o acusado tenha o direito de permanecer em silêncio, não raro sublinha-se, no contexto da fundamentação das decisões judiciais, que o acusado não quis apresentar sua versão. Isso também é sintoma da ‘frustração de expectativas’, ou seja, o juiz, como ser-no-mundo, é alimentado pela ‘curiosidade’ e movido pelo ‘desejo’, portanto, o silêncio do acusado é um tapa no conjunto de expectativas criadas pelo julgador. O exercício de seu silêncio é tomado como uma confissão silenciosa da culpa. A Constituição da República garante o direito ao silêncio (artigo 5º, inciso LXIII), na linha do devido processo legal substancial, afinal ninguém seria obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas o exercício do direito é mais complexo. Compreendendo o processo como jogo de informação, a atitude do acusado em permanecer em silêncio ainda encontra forte resistência dos agentes processuais que muitas vezes entendem o exercício do direito como uma forma de desrespeito. Muitos magistrados e membros do Ministério Público tomam o exercício do direito como uma forma de depreciação com suas funções, uma forma “indolente” ou “inatural” de comportamento, quando não invocam, ainda, o não recepcionado artigo 186 do Código de Processo Penal conforme se infere: “O juiz criminal não se pode permitir nenhuma ingenuidade no exercício de suas funções (...) O silêncio do réu não implica em confissão, mas é significativa a atitude de quem, preso e acusado injustamente de crime gravíssimo, prefere manter-se calado, pois a reação natural de qualquer pessoa inocente é proclamar veementemente a sua inocência, esteja onde estiver.” (TRF-4, Ap. Criminal 6.656, julgado em 12/11/2001). (...) Como o silêncio pode deslizar em diferentes sentidos para o sujeito, especialmente no ambiente processual brasileiro, ficar em silêncio pode ser um risco a ser mensurado. Exercer direitos no Brasil pode ser uma tarefa clandestina e arriscada, principalmente quando se está movido por verdades absolutas e autoritárias. O risco está posto. A análise deve ser feita em cada processo penal, conforme seus personagens. A dinâmica do processo é única. O silêncio, todavia, pode ganhar sentidos inesperados, dado que os efeitos do silêncio são imprevisíveis. Afinal, quem cala, nem sempre consente. Certo?” (ROSA, Alexandre Morais da. LOPES JR, Aury. Máxima do "quem cala consente" é o Perigo do Silêncio do Acusado. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-abr-24/limite-penal-maxima-quem-cala-consente-perigo-silencio-acusado. Acessado em 09.03.2019). A provocação é totalmente pertinente para o procedimento civil, afinal interrogatório, interrogatório livre e depoimento de parte são, sob o prisma ontológico, a mesma e única coisa: oitiva de parte.
[43] Logo se verá que o contraditório é situação jurídica ativa de titularidade das partes e situação jurídica passiva de titularidade do juiz. Logo, é direito daqueles e dever deste. Assim, dizer que o contraditório impõe dever de debate é marcar o juiz. O contraditório impõe ao juiz o dever de debate e, as partes, o ônus de debater.
[44] Além das referências já mencionadas, conferir: THEODORO JR, Humberto. NUNES, Dierle José Coelho. Uma Dimensão que Urge Reconhecer qo Contraditório no Direito Brasileiro: sua Aplicação como Garantia de Influência, de Não Surpresa e de Aproveitamento da Atividade Processual. Revista de Processo. vol. 168. Fev/2009, p. 107 e ss.; DELFINO, Lúcio. O Processo Democrático e a Ilegitimidade de Algumas Decisões Judiciais. In Direito Processual Civil Artigos e Pareceres. Fórum, 2011, p. 29-80.
[45] CASTRO, Torquato. Teoria da Situação jurídica em Direito Privado Nacional. Saraiva. 1985, p. 50.
[46] CASTRO, Torquato. Teoria da Situação jurídica em Direito Privado Nacional. Saraiva. 1985, p. 70.
[47] CASTRO, Torquato. Teoria da Situação jurídica em Direito Privado Nacional. Saraiva. 1985, p. 76.
[48] CASTRO, Torquato. Teoria da Situação jurídica em Direito Privado Nacional. Saraiva. 1985, p. 77.
[49] NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Jus Podivm. 2015, p. 69.
[50] DIDIER JR, Fredie. NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. Jus Podivm. 2011, p. 117-123.
[51] DELFINO, Lúcio. ROSSI, Fernando. Juiz Contraditor? Processo Civil nas Tradições Brasileira e Iberoamericana. Conceito. 2014, p. 279-292.
[52] Cuja norma desde sempre atribuível ora consta no texto de vários dispositivos do CPC, tais como: art. 7º, art. 9º, art. 10, art. 493, parágrafo único, art. 927, § 1º.
[53] Em sentido contrário, considerando que o contraditório é fonte de deveres tanto para o juiz como para as partes, conferir: CABRAL, Antônio do Passo. O Contraditório como Dever e a Boa-fé Processual Objetiva. In Revista de Processo. V.126. Ago/2005. Não se nega que as partes devem agir conforme a boa-fé (art. 5º, CPC), vedado o exercício abusivo dos direitos (art. 187, CC), para o que são relevantes as figuras da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, expressamente disciplinadas em lei. O garantismo processual está acorde com essa coordenada, como se vê, por todos, na lição de Fermín Canteros: “resulta inegable que cuando um juez actúa de oficio lo hace siempre movido por un cierto interés. Y él no debe tener otro interés que em el desarrollo eficaz del debate que se permita dictar una sentencia valida. Para lograrlo debe garantizar a las partes – dentro del marco estabelecido em la ley – el pleno derecho de audiencia, de impugnación, de alegación y de confirmación (prueba), es decir, la igualdad jurídica de instar; y que ese debate se realice, además, conforme al principio de moralidad procesal, vale decir, no permitiendo la añagaza, la artería, la malicia de las partes. Esse debe ser todo su interés”. (CANTEROS, Fermín. Garantismo Processual vs Activismo Judicial. Revista Brasileira de Direito Processual – RDBPro. Edição n. 99 (julho/setembro). Fórum. 2017, págs. 182-183). (Grifou-se). É certo que condutas desairosas podem (e no mais das vezes irão) decorrer do exercício abusivo do contraditório. Todavia, a fonte desses deveres é a própria condição de sujeito, que outorga, por si só, a todos o direito de não serem lesados por atos de má-fé, ao qual corresponde, para toda a coletividade, o dever de não lesar outrem. É dever pré-processual e instituto jurídico autônomo (isto é, distinto do contraditório). Percebendo o ponto: GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos. Uma Crítica Analítica à Ideia de Relação Processual entre as Partes. Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Edição n. 93 (janeiro/março de 2016). Fórum. 2016.
[54] Aliás, a compreensão do contraditório como direito das partes e dever do juiz pode ser identificada no art. 7º, NCPC, segundo o qual “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. (destacou-se). Conforme ensinam Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, “as partes devem ter garantidas as mesmas oportunidades ao longo do processo, como decorrência lógica do princípio do contraditório. O juiz, como visto pelo teor do CPC 7º, é responsável pela devida observância do preceito”. (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. RT. 2015, p. 209). Grifou-se.
[55] DIDIER JR, Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria. BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil. V.2. 10ª Ed. Jus Podivm, 2015, p. 41.
[56] DIDIER JR, Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria. BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil. V.2. 10ª Ed. Jus Podivm, 2015, p. 41.
[57] Doutrina amplamente majoritária sustenta que a parte não pode requerer o próprio depoimento. De fato, prescreve o art. 385, CPC, uma parte pode requerer o depoimento pessoal da outra. É entendimento atrelado à visão de que o depoimento da parte é meio de prova voltado à obtenção da confissão. Discorda-se desse posicionamento. O depoimento da parte também deve ser compreendido como instrumento do contraditório voltado a influir no convencimento do julgador, inclusive provando a favor do depoente, daí a possibilidade de se requerer o autodepoimento (discordando do direito ao autodepoimento, mas concordando que o depoimento pode provar a favor do depoente: ASSIS, Araken de. Processo Civil Brasileiro. V. III. RT. 2015, p. 500; MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e Convicção. 3ª Ed. RT. 2015, p. 448-449; e PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. 3ª Ed. Forense. 2001, p. 304). Trata-se de aproximar o depoimento da parte do interrogatório do procedimento penal, redimensionamento coerente com a unidade ontológica entre depoimento de parte e interrogatório livre e que com a garantia constitucional do contraditório, dotada de eficácia transprocedimental. Leitura afinada com a Constituição conduz ao reconhecimento do direito da parte requerer o próprio depoimento (concordando com o autodepoimento: FERREIRA, Willian Santos. Princípios Fundamentais da Prova Cível. RT. 2013, p. 214; e GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. V.II. Forense. 2015, p. 177-180). Isso não quer dizer que uma declaração de nulidade parcial sem redução de texto seja necessária para preservar a constitucionalidade do interrogatório livre. Afinal, se forem preservadas as situações jurídicas probatórias ativas das partes aí já se estará diante do que o direito positivo chama de depoimento de parte. Portanto, o que se quer é a proscrição do interrogatório livre da ordem jurídica pátria. Ele é incompatível com a Constituição e já existe substitutivo (o depoimento de parte) à altura das garantias constitucionais do contraditório e da impartialidade.
[58] É representativo o relato que o psiquiatra e ensaísta Theodore Dalrymple faz dos depoimentos de seus pacientes que fogem das ditaduras do oriente em busca da democracia no Reino Unido: “É bem verdade que muitos fogem da sua terra para viver sob o nosso Estado de direito. Entre meus pacientes se encontram alguns refugiados, a maioria dos quais é gente dotada de inteligência, iniciativa e clarividência. Tendo experimentado o outro lado na própria carne, eles não têm dúvida das vantagens do Estado de direito. Sabem o quão reconfortante é não temer batidas na porta à noite e não tremer ao ver alguém uniformizado. Eles também sabem que o Estado de direito é uma conquista histórica, não uma condição natural do homem. É um prazer ouvi-los dissertar sobre esse grande feito histórico. Em virtude do que vivenciaram, eles não o tomam como algo natural. Têm ciência de que surgiu depois de um longo desenvolvimento filosófico e político, um desenvolvimento único na história do mundo. Eles sabem que se trata de uma conquista frágil e facilmente destrutível”. (DALRYMPLE, Theodore. Não com um Estrondo, mas com um Gemido. A política e a cultura do declínio. É Realizações. 2016, p. 223).
[59] NERY JR., Nelson. ABBOUD, Georges. Direito Constitucional Brasileiro. Curso completo. RT. 2017, p. 85.
[60] MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. Malheiros. 2008, p. 100.
[61] NERY JR., Nelson. ABBOUD, Georges. Direito Constitucional Brasileiro. Curso completo. RT. 2017, p. 149.
[62] “Mas é preciso aqui minuciar a ideia de não-criatividade. A expressão quer significa «proibição da atividade de criar». Criar vem do latim creare, «produzir, erguer», relacionado a crescere, «crescer, aumentar», do indo-europeu ker-, «crescer». Portanto, da garantia primária da não-criatividade se podem derivar garantias secundárias que proíbam o juiz de fazer crescer, erguer, aumentar, acrescentar, ampliar ou extrapolar algo pré-instituído. Esse pré-instituído pode ser extra-processual ou intra-processual. Fora do processo há a lei, que o legislador pré-institui ao juiz; dentro do processo há os pedidos, os fundamentos e os argumentos, que são pré-instituídos ao juiz pelas partes. Nesse sentido, a garantia pré-positiva da não-criatividade pode manifestar-se no plano positivo pelas vinculações do juiz à lei [GARANTIA FUNDAMENTAL DA LEGALIDADE], aos pedidos formulados pelas partes [GARANTIA FUNDAMENTAL DA CONGRUÊNCIA], aos fundamentos invocados pelas partes [GARANTIA FUNDAMENTAL DA ADSTRIÇÃO] e aos argumentos que elas articulam para relacionar os fundamentos invocados aos pedidos formulados [GARANTIA FUNDAMENTAL DO DIÁLOGO]. Daí por que faz antijurisdição o «juiz» que se arvora em liberdades e, escorado nelas, julga apesar da lei, atende a informulações, surpreende com fundamento inédito ou não enfrenta os argumentos que lhe são submetidos”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. As Garantias Arquifundamentais Contrajurisdicionais: Não-Criatividade e Imparcialidade. Revista eletrônica Empório do Direito. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/as-garantias-arquifundamentais-contrajurisdicionais-nao-criatividade-e-imparcialidade. Acessado em 09.03.2019).
[63] NERY JR., Nelson. ABBOUD, Georges. Direito Constitucional Brasileiro. Curso completo. RT. 2017, p. 161.
[64] LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo. Primeiros estudos. 11ª Ed. Forense. 2012, p. 91.
[65] “De acordo com o inciso LIV do artigo 5º da CF-1988, «ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal» (d. n.). Isso significa que o hífen do binômio jurisdição-jurisdicionados deve ser um procedimento em contraditório regulado exclusivamente em lei. Enfim, é obrigatório que a zona friccional entre o Estado-juiz e as partes seja ocupada por um procedimento em contraditório desenvolvido sub lege. Por isso, um juiz nunca deve regular procedimentos. As partes não atuam sob diretrizes fixadas pelo juiz para o bom andamento processual. O procedimento não se regra por dupla normatividade, (i) uma composta de leis procedimentais (civis, penais, trabalhistas, eleitorais etc.) [marco regulatório originário], (ii) outra de resoluções judiciais criativas [marco regulatório derivado]. Enfim, o procedimento se arma segundo a lei [sub legem], jamais à margem dela [præter legem]. Ele não é ejetado da dupla matriz legislativo-jurisdicional; afinal, não se trata de «devido processo legal+jurisdicional», mas apenas de «devido processo legal». Só a lex, não o iudex, institui as condições procedimentais do debate. A trajetória do debate é planejada ante causam na lei, não improvisada post causam pelo julgador. Logo, o juiz não cria marcos regulatórios, mas garante às partes os marcos já fixados em lei. Nesse sentido, não é ele um agente propriamente regulador, mas GARANTIDOR”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Breves Meditações sobre o Devido Processo Legal. Revista eletrônica Empório do Direito. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-15-breves-meditacoes-sobre-o-devido-processo-legal. Acessado em 09.03.2019).
[66] “Compete ao legislador definir o proceder do juiz e das partes, não ao juiz definir, apesar das partes, o proceder dele e delas. O iudicare e o procedere se regem pela lei e só por ela. O contrajurisdicional não pode ser regulado pelo jurisdicional, sob pena de se tornar pró-jurisdicional. Na verdade, é regulado pelo legislativo, de onde emana the general will of the people. O poder emana do povo, não dos juízes. O povo, por meio dos seus representantes eleitos democraticamente, regula a contrajurisdicionalidade. Isso mostra que a flexibilização procedimental ex officio é, em última análise, um atentado à própria democracia. Por essa razão, é desacertado o Enunciado 35 da Enfam ("Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo artigo 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo")”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. É Preciso Desfazer a Imagem Eficientista do Juiz como Agente Regulador. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jan-13/diario-classe-preciso-desfazer-imagem-eficientista-juiz-agente-regulador. Acessado em 09.03.2019).
[67] “Por isso, o papel do juiz no procedimento é um tedioso cuidar. Vigiar para que a trajetória do debate siga o plano instituído na lei. Porém, é preciso aí que o juiz exerça um desvelo neutral. Cabe-lhe zelar com imparcialidade pela observância e pela realização das condições legais do debate nas diferentes ocorrências contingentes. Nesse sentido, o juiz trabalha como um garantidor de liberdade. A cotidianidade prática do juiz se cinge – em uma única palavra – a garantir. Ele é o anti-herói da serenidade. Sem arroubos nem calafrios. Nisto há de consistir toda a sua melancólica absorção ocupacional. Assim sendo, não detém ele prerrogativas soberanas de escolhas arbitrárias ou discricionárias. Ao contrário: vincula-se estritamente à lei. Compete-lhe com equidistância resguardar o debate sob uma marcha always under law. Concentrando-se no cumprimento da lei procedimental, o juiz protege-se de suas próprias vontades; protegendo-se de si próprio, acaba por proteger as próprias partes. É como se, ocupando-se da lei, se esquecesse de si mesmo (o que faz com que boa parte dos contratempos processuais desapareçam!). Nesse sentido, ser um juiz garantidor é mortificar-se e, com isso, ser de um certo modo penitente. A autocontenção judicial [judicial self-restraint] é prima da autovigilância monacal. O processo – corporificado num procedimento em contraditório legalmente estruturado – é a inafastável interface comunicativa entre a jurisdição e os jurisdicionados. Com isso se faz reinar o objetivo sobre o subjetivo, a garantia sobre a autoridade, a liberdade sobre a tirania, a cidadania sobre o jugo, a progressão sobre o abrupto, a reflexão sobre o impulso. Nesse sentido, o «devido processo legal» [due process of law] é o próprio processo como garantia de liberdade em si. É a garantia de que – ao menor sinal de uma petição inicial, uma denúncia ou uma queixa – o juiz não responda simpliciter et de plano e, portanto, não entregue a prestação jurisdicional inaudita altera parte. Ou seja, é a garantia de que o demandado, o denunciado ou o querelado serão integrados a uma instância comunicativa, na qual deverão ser sempre ouvidos antes da efetiva entrega da tutela jurisdicional. Isso mostra, dentre outras coisas, que entre o «processo» e o «inaudita altera parte» existe uma forte carga de antonímia (o que revela, por exemplo, a inconstitucionalidade da «improcedência liminar do pedido» regulada nos artigos 285-A do CPC-1973 e 332 do CPC-2015, que é sentença proferida num «sub-processo», num «processo sob reserva», num «modo privativo de processo», numa «aparência de processo»). Isso mostra, outrossim, que o processo, porque «procedimento em contraditório» [ELIO FAZZALARI], é procedimento volvido à audição, à contra-audição e à re-audição. Ouvir em silêncio é a capacidade humana pré-positiva fundante de uma processualidade garantista”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca: Breves Meditações sobre o Devido Processo Legal. Revista eletrônica Empório do Direito. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-15-breves-meditacoes-sobre-o-devido-processo-legal. Acessado em 09.03.2019).
[68] “numa visão democrática do direito, não há que se falar de aumento de ‘poderes’ e sistema de ‘autoridade puro’, nem mesmo em processo sem balizamentos, governado pela vontade de apenas ‘um’, pois o procedimento não pode sofrer alterações arbitrárias seja pela vontade das partes, seja pela vontade do juiz. (...) Os sujeitos processuais – juiz e parte – são co-construtores de todos os provimentos judiciais por força do modelo constitucional assegurado e não possuem privilégios na marcha processual, pois tal levaria à quebra do devido processo legal”. (NUNES, Dierle José Coelho. Preclusão como Fator de Estruturação do Procedimento. Estudos Continuados de Teoria do Processo – Origens Históricas da Processualidade Democrática. Rosemiro Pereira Leal – Coord. Vol. IV. Síntese. 2004, págs. 197 e 200).
[69] “Embora o princípio da segurança jurídica seja considerado um elemento essencial do princípio do Estado de direito, não é fácil sintetizar o seu conteúdo básico. Além das suas imbricações com o princípio de protecção da confiança, as ideias nucleares da segurança jurídica desenvolvem-se em torno de dois conceitos: (1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica: uma vez adoptadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, as decisões estaduais não devem poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável alteração das mesmas quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes. (2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos”. (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Almedina. 2003, p. 263).
[70] Sobre uma investigação dos fundamentos ideológicos dos mais variados modelos processuais, conferir: COSTA, Eduardo José da Fonseca. Uma Espectroscopia Ideológica do Debate entre Garantismo e Ativismo. In Ativismo Judicial e Garantismo Processual. Coordenadores Fredie Didier Jr., José Renato Nalini, Glauco Gumerato Ramos, Wilson Levy. Jus Podivm. 2013, p. 171-186. Sobre as relações (possíveis e impossíveis) entre processo e eficiência, conferir: “da eficiência dos órgãos jurisdicionais não se pode derivar uma "eficiência do processo". A eficiência é imputável sempre à organização, não ao procedimento que a controla. Logo, a rigor, "eficiência processual" é non sense. Ainda que assim não seja, se se tomar eficiência como "capacidade de consecução de metas, objetivos ou finalidades", o processo (o "devido processo legal") será tanto mais eficiente quanto mais contiver o arbítrio do Estado-juiz; no final das contas, essa é a sua missão constitucional como garantia de liberdade. Por isso, eficiência jurisdicional não implica maleabilidade procedimental per officium iudicis. Eficiência é tema de direito jurisdicional (que regula o poder), não de direito processual (que regula a respectiva garantia). Isso significa que, a pretexto de otimizar a sua produção decisória, o juiz não pode imprimir unilateralmente supressões ou modificações ao procedimento previsto em lei. Somente as partes podem fazê-lo mediante negócio processual (CPC, artigo 190), visto que a elas serve o processo e, portanto, o procedimento que o corporifica. Flexibilização procedimental pelo juiz caracteriza usurpação de competência legislativa: cabe ao juiz apenas seguir o procedimento definido in abstrato na lei, não criar in concreto procedimentos a seu talante”. Logo adiante, diz: “Como se não bastasse, desestruturando-se o arranjo procedimental, pode-se prejudicar a função contrajurisdicional do processo. A força da macrogarantia constitucional processual depende da correta arrumação das microgarantias infraconstitucionais procedimentais. O vigor do constituído depende de uma disposição ótima entre os constituintes. Daí o risco de que, flexibilizando o procedimento, o juiz enfraqueça in causa sua a garantia contra ele instituída. Permitir que o juiz interfira no procedimento é permitir que o limitado afrouxe o limitante. É fazer o poder jurisdicional um pouco mais incontrastável (e um pouco menos republicano, pois)”. Por fim, arremata: “Flexibilização procedimental oficiosa é sinônimo de lesão procedimental e, por conseguinte, de afronta à garantia individual contrajurisdicional primeira, que é o processo (o devido processo legal a que alude o artigo 5º, LIV, da CF). Que se logre a eficiência jurisdicional mediante, por exemplo, planejamento estratégico, governança judiciária, fixação e monitoração de metas de produtividade, capacitação gerencial de magistrados, implantação de boas práticas cartorárias, gestão computacional de feitos, calendarizações negociadas, despachos inteligentes, especialização de varas e turmas julgadoras. Contudo, que os juízes respeitem o procedimento arquitetado constitucionalmente na lei, salvo se as partes consentirem com a flexibilização. Isso porque, para as partes, o procedimento é plástico; para o juiz, rígido. Afinal, o processo é coisa para as partes (como quer o garantismo processual); não "das" partes (como quer uma teoria anárquico-esportiva do processo); tampouco "do" ou "para" o juiz (como quer o instrumentalismo processual). É necessário desfazer a imagem eficientista do juiz como "agente regulador". As partes não atuam sob diretrizes fixadas pelo juiz. O procedimento não se regra por dupla normatividade, uma composta de leis [marco regulatório originário], outra de resoluções judiciais criativas [marco regulatório derivado]. Enfim, o procedimento não se arma segundo a lei [sub legem] e também à margem dela [præter legem]. Não é ejetado da dupla matriz legislativo-jurisdicional. Não há "devido processo legal+jurisdicional", mas apenas "devido processo legal". Só a lei disciplina o procedimento. Logo, o juiz não cria marcos regulatórios, mas garante às partes os já fixados em lei. Nesse sentido, o juiz não é um agente regulador, mas garantidor: garante a realização do procedimento legal nas diferentes ocorrências contingentes. Nada mais do que isso” (COSTA, Eduardo José da Fonseca. COSTA, Eduardo José da Fonseca. É Preciso Desfazer a Imagem Eficientista do Juiz como Agente Regulador. Revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jan-13/diario-classe-preciso-desfazer-imagem-eficientista-juiz-agente-regulador. Acessado em 09.03.2019).
[71] “Agravam-se as tentativas de classificação do processo e procedimento nesta escola da relação jurídica (hoje instrumentalista), quando, além de se perderem em elucubrações fenomenológicas e enigmáticas, os teóricos dessa escola conectaram o Processo à jurisdição, em escopos metajurídicos, definindo o processo como se fosse uma corda a serviço da atividade jurisdicional nas mãos do juiz para puxar pela coleira mágica a Justiça Redentora para todos os homens, trazendo-lhes paz e felicidade. Falam que o processo é instrumento da jurisdição, sem observarem que a jurisdição hoje é função fundamental do Estado e este só se legitima, em sua atividade jurisdicional, pelo processo. É, portanto, o processo validador e disciplinador da jurisdição e não instrumento desta” (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo Primeiros Estudos. 11ª Ed. Forense, 2012, p.83-84).
[72] Demonstrando que a maleabilidade do procedimento pelo juiz é sintoma de regimes que conferem protagonismo ao Estado-juiz, qualquer que seja o corte ideológico de base, conferir: COSTA, Eduardo José da Fonseca. Uma Espectroscopia Ideológica do Debate entre Garantismo e Ativismo. In Ativismo Judicial e Garantismo Processual. Coordenadores Fredie Didier Jr, José Renato Nalini, Glauco Gumerato Ramos e Wilson Levy. Jus Podivm, 2013, p. 161-186.
[73] Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
[74] Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
[75] “O processo [= devido processo legal] – porque garantia individual contrajurisdicional – é um instituto de direito material público constitucional (...) é isso que o processo é: asseguração ou proteção de que dispõem as partes contra eventuais desempenhos judiciais abusivos). Posto que sirva exclusivamente às partes, não pertence a elas, não perde os traços de publicidade. Nada há de privado aí. Não se trata de uma «coisa das partes». Mas também não é «coisa do juiz». É coisa para as partes (na feliz dicção da Professora Maria Elizabeth Fernandez, da Universidade do Minho). O instituto é de direito público não porque sirva ao Estado-juiz, mas justamente porque o desserve quando age com arbítrio. É público não porque atenda ao interesse público, mas porque instaura uma relação jurídica garantística entre os cidadãos-jurisdicionados e o Estado-jurisdição. Mete-se entre o juiz e as partes para eliminar, neutralizar ou mitigar eventuais erros, excessos e desvios judiciais. Antepara os cidadãos do Estado. Protege-os dele. Impede que se rebaixem a súditos. Por isso, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA é impreciso quando chama o garantismo processual de «neoprivatismo» (v. O neoprivatismo no processo civil. RePro, v. 30, n. 122, p. 9-21, abr. 2005). O termo obscurece, porquanto indevidamente associa o garantismo ao ordo iudiciorum privatorum romano e, em consequência, a algo ruínico e démodé; por exclusão, associa o instrumentalismo processual – apelidado de «publicismo» – a la dernière mode à Paris, à coqueluche do momento. Tudo como se o mundo «evoluísse» do privado ao público. Como se o Estado fosse a causa finalis da história. É o próprio HEGEL proclamando que «Der Staat ist göttlicher Wille als gegenwärtiger, sich zur wirklichen Gestalt und Organisation einer Welt entfaltender Geist» (Grundlinien der Philosophie des Rechts. § 270) (tradução livre: «O Estado é a vontade divina como espírito presente ou atual que se desenvolve na formação e organização de um mundo»)”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Breves Meditações sobre o Devido Processo Legal. Revista eletrônica Empório do Direito. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-15-breves-meditacoes-sobre-o-devido-processo-legal. Acessado em 09.03.2019).
[76] Para Antonio do Passo Cabral o juiz nunca é parte da convenção processual: “a capacidade negocial é o poder jurídico conferido pela ordem jurídica aos indivíduos para, em conformidade com as normas jurídicas gerais e com base em sua autonomia e liberdade, produzirem normas jurídicas individuais. Nesse sentido, a capacidade negocial não é própria da função jurisdicional. Somente os sujeitos que falam em nome de algum interesse possuem capacidade negocial. (...) Acordos processuais são celebrados por sujeitos que tomam parte a favor de interesses, e não pelo Estado-juiz. (...) Ainda que concebamos que o juiz age voluntariamente, e que esta vontade produza efeitos, de qualquer maneira a vontade externada pelo Estado-juiz não decorre de uma escolha livre; é uma vontade autoritativa, como se percebe no procedimento da arrematação, por exemplo: (...) Admitimos que, às vezes, o poder de disposição é discricionário, baseado na conveniência de praticar ou não o ato, bem assim de definir-lhe o conteúdo. Nada obstante, mesmo quando há discricionariedade, não significa que exista autonomia ou liberdade negocial”. (CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. Jus Podivm. 2016, p. 223-225).
[77] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.
[78] Já escrevi algo a respeito, em: SOUSA, Diego Crevelin. Novo Código de Processo Civil Comentado. Coordenadores. Sérgio Luiz Almeida Ribeiro. Roberto P. Campos Gouveia Filho. Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Lúcio Grassi Gouveia. Tomo II. Lualri Editora. 2017, pgs. 126-141.
Imagem Ilustrativa do Post: architecture 2 // Foto de: Dennis Hill // Sem alterações
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/503736220
Licença de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/





