Coluna Garantismo Processual / Coordenadores Eduardo José da Fonseca Costa e Antonio Carvalho
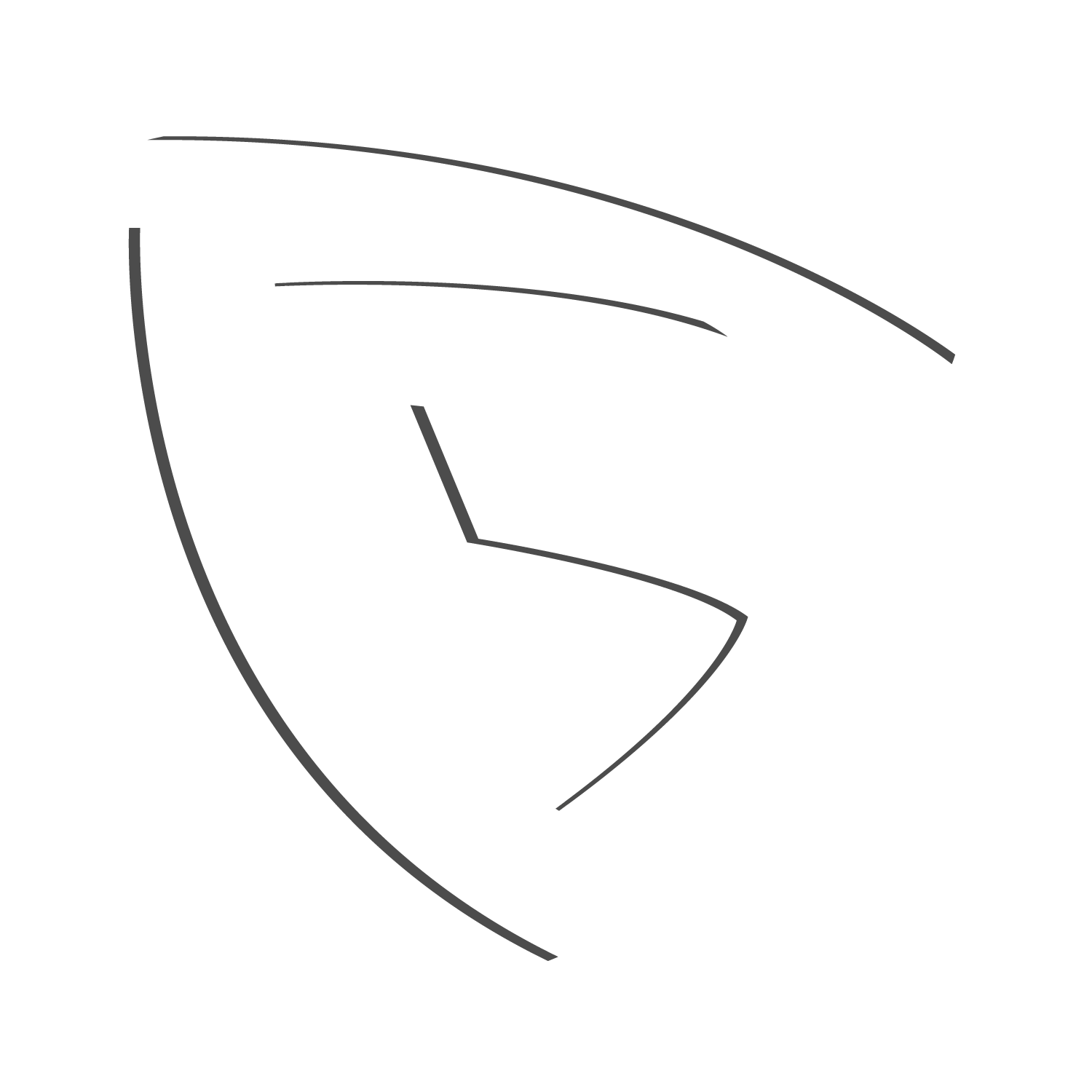
Considerações iniciais
Determinado autor, ao trabalhar dado tema, desenvolve seu raciocínio visando a esclarecer algum aspecto específico que carece de respostas e/ou problematizações. Ao fazê-lo, delimita o quadro trabalhado e o alcance de sua argumentação de modo que, quando o lemos, devemos procurar ali as respostas que estão sendo dadas, e não as respostas que queríamos que estivessem sendo dadas.
Além disso, é importante observar a situação metodológica do texto: perguntar se a argumentação assume uma preponderância metodológica descritiva ou prescritiva[1] é crucial para que se compreenda bem o propósito de um texto e, mais importante, para que a justiça com o escritor seja prestada e que ninguém leve a responsabilidade por aquilo que não pretendeu ou escreveu[2].
Se os leitores de textos acadêmicos fizessem esse filtro inicial, especialmente os juristas brasileiros, talvez a ciência avançasse de modo mais consistente. Quando menos, evitar-se-ia o emprego constante da falácia do espantalho (straw man argument).
Deveria ser desnecessário dizer que é equivocado procurar respostas sobre epistemologia jurídica em alguma obra da literatura médica que trata de eletrocardiograma ou, ainda, que pareça desarrazoado reclamar com Newton pela existência da lei gravitacional – afinal, sua existência jamais foi prescrita como uma necessidade pelo autor –, mas é fato que semelhantes baralhamentos acontecem com frequência no campo jurídico. De modo que os alertas anteriores são necessários.
Esclarecemos isso porque, em consonância com garantismo processual o qual estamos engajados e, mais do que isso, sendo essa uma diretriz dogmática relativamente nova no Brasil – com a roupagem que autores da qualidade de Eduardo José da Fonseca Costa, Glauco Gumerato Ramos, Antônio Carvalho, Igor Raatz, Natasha Anchieta, Mateus Costa Pereira, Lúcio Delfino, dentre outros juristas ou estudiosos da corrente –, fato é que muitas questões ainda não foram respondidas por essa corrente. Não foram respondidas porque o garantismo processual não nasceu pronto e abarcando todas as controvérsias jurídicas existentes no território brasileiro. É uma questão óbvia, aliás.
Nada obstante, acontece de o garantismo processual ser acusado por aquilo que alguns de seus leitores acham que seus adeptos dizem ou vão dizer. Dá-se aí o problema referido acima: os interlocutores do garantismo processual deveriam procurar, em nossa produção, as respostas que já demos, e não as respostas que queriam que estivessem sendo dadas ou que acham que um dia o serão.
Neste texto trataremos da sempre controvertida questão da discricionariedade, sob o marco teórico do garantismo processual.
É que, embora o assunto ainda não tenha sido objeto de abordagem de fôlego do garantismo processual, isso não impediu a articulação de argumentações especulativas sobre o tema. Chegou-se a dizer que o garantismo processual negaria a existência da discricionariedade e que defenderia o formalismo estrito (uma espécie de “matematização” do Direito). Isso é absolutamente inverídico, como demonstraremos objetivamente através de alguns textos que já foram publicados e que abordaram panoramicamente o tema.
Antes de adentrar expressamente naquilo que o garantismo disse e não disse, pensamos que é necessária uma breve limpeza conceitual sobre os termos. Cremos que a maioria dos autores que tratam do tema parecem convergir muito mais do que divergem em sua substância. O que os afasta e muitas vezes causa ruídos é a nomenclatura utilizada.
Conceituação prévia: arbitrariedade, discricionariedade e indeterminação do Direito.
Não temos a pretensão de, nesta coluna, exaurir todo e quaisquer pormenores relativos à conceituação de discricionariedade, arbitrariedade e indeterminação do Direito – que são fenômenos radicalmente distintos. O que pretendemos é fornecer uma abordagem ampla e geral sobre os conceitos em questão, apenas para iniciar o debate e demonstrar a densidade do fenômeno[3]. Falamos em perspectiva panorâmica porque os limites dos conceitos, por mais singelos que pareçam, nem sempre são claros. É preciso, assim, ficar claro: o objetivo do texto não é exaurir tais distinções, mas apenas lançar as bases mínimas para que seja possível uma resposta sobre questões envolvendo o Garantismo processual e a discricionariedade, sendo esse o verdadeiro objeto deste ensaio.
Trataremos aqui de arbitrariedade[4] no sentido da decisão que recorre exclusivamente a critérios subjetivos e extrajurídicos daquele que decide, mesmo tendo padrões e regras jurídicas bem definidas e estabelecidas.
Quando o Min. Dias Toffoli, v.g., disse que “verifico, já falando em Deus, que os astros hoje estão alinhados pela concessão das ordens”, no julgamento do HC 103.412/SP, proferiu uma afirmação arbitrária, isso porque (i) o Direito oferecia critérios e padrões para a tomada de decisões em HC e (ii) o apelo aos astros é um critério extrajurídico, pessoal, de cunho religioso e, portanto, desconexo com o código Direito-não Direito; ou seja, claramente arbitrário.
Outro exemplo são as recentes decisões proferidas pelo STJ no que toca a compreensão sobre o rol e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. De um lado, a Corte Especial finalizou o julgamento e estabeleceu que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Entretanto, a decisão consignou que havendo situações de urgência as referidas hipóteses podem ser mitigadas/relativizadas – julgamento encerrado em 05/12/2018, votação por maioria: 7 votos a 5. A norma restritiva por excelência recebeu correção/abrandamento jurisdicional a permitir atuação arbitrária: o STJ estabeleceu que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo mitigado (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520)[5]. De outro lado, o Tribunal, por meio de sua Segunda Turma, analisando o parágrafo único do art. 1.015 CPC, o qual prevê expressamente que “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, concluiu que não seria “impugnável por agravo de instrumento toda a decisão interlocutória proferida em execução” (REsp 1.700.305/PB).
As decisões são novamente arbitrárias porque (i) o Direito oferecia critérios e padrões objetivos para a tomada da decisão e (ii) o argumento utilizado foi pessoal e extrajurídico. A doutrina divergia sobre a interpretação do dispositivo, mas ninguém encampava a solução consagrada na decisão: considerar que o rol é taxativo, mas mitigável nos casos de urgência. E quanto ao parágrafo único, em particular, o dispositivo é absolutamente claro que no processo de execução, no cumprimento de sentença e na liquidação todas as interlocutórias são passíveis de agravo de instrumento. De modo que houve, em ambos os julgados, total desconsideração dos significados dos textos legislados, substituindo-os por qualquer critério imaginável, salvo o técnico-jurídico.
Isso é o que entendemos, portanto, por arbitrariedade.
Diferente é o significado que adotaremos para o termo discricionariedade. Quando nos referirmos à discricionariedade, estaremos a falar daquelas hipóteses em que há um espaço de discussão mínimo, que permite ao juiz um inevitável grau de liberdade, justamente pelo fato de que o Direito não é “matemática”. Os exemplos claros desse tipo de situação são as fixações da pena, do quantum indenizatório a título de danos morais ou de fixação de dias para o cumprimento de uma obrigação, etc.
Por fim, a expressão indeterminação do Direito tem significado distinto de discricionariedade. Figuram nessas hipóteses as situações de alta indeterminação, em que nenhuma tese possa afastar cabalmente a outra, o que acaba ocorrendo nos casos em que o Direito “chega tarde”, a exemplo das disputas envolvendo novas tecnologias ainda carentes de regramentos. Colocada em uma pergunta, a indeterminação do Direito tem mais relação com a questão “quem tem o direito?”, enquanto que a discricionariedade tem mais relação com dúvida sobre “em quais termos o direito será concedido?”
Assim, se um problema jurídico e a pretensa solução a ser conferida a ele, por antinomias, indeterminação semântica, conflito de normas etc., revela-se obscura, de forma que não se divisa se uma das partes da ação tem ou não o direito ou dever (lato sensu), estamos no campo daquilo que podemos determinar de incompletude ou indeterminação do Direito. Se, por outro lado, sabemos que um direito subjetivo existe (de ser compensado por danos morais, por exemplo), mas precisamos mensurar o quantum, que pode variar, por razões jurisprudenciais e de doutrina, entre 10 e 15 mil reais, estamos em face de um caso de discricionariedade. O juiz responsável procurará, na primeira hipótese (indeterminação), padrões jurídicos – lei, jurisprudência e doutrina – para dar sua resposta e, no segundo caso (discricionariedade), fixará o quantum de acordo com a “moldura” estabelecida entre 10 a 15 mil reais.
O que caracteriza a decisão tomada com discricionariedade, portanto, é a ausência de critérios específicos e pormenorizados, que sejam suficientes a excluir totalmente o campo de liberdade do intérprete pelo Direito. Já a indeterminação do Direito está mais vinculada com problemas de linguagem, que deixam obtuso se o direito em questão deve ser concedido.
Veja-se, desse modo, que a realidade nos demonstra situações muito distintas: é abissal a diferença entre o juiz que se simplesmente se desgarra do Direito e decide arbitrariamente daquele que, ainda que não consiga e que jamais fosse capaz de fazê-lo, se engaja em uma argumentação jurídica e procura encontrar a melhor resposta possível para o caso concreto – campo da indeterminação do Direito – ou daquele que, por razões de dogmática, jurisprudência e etc., constata que o dano moral de um dado caso possa ser quantificado entre 10 e 15 mil reais e, através de seu campo de liberdade, opta por um valor dentro de tal “moldura” – campo da discricionariedade.
Consideramos que isso ajuda a compreender por que autores respeitáveis fazem concessões mais ou menos amplas à discricionariedade, bem como que ela não pode ser confundida com o que ora denominados de arbitrariedade[6]. Mesmo a análise superficial das nossas práticas jurídicas revela um grau tão elevado de arbitrariedade decisória que torna inoportuna a transposição, para nós, do debate sobre discricionariedade entre Ronald Dworkin vs. Herbert Hart. Estamos muito aquém daquele estágio.
Já no contexto daquele notório debate, que agitou a teoria do Direito a partir da década de 1960, o jusfilósofo inglês arremata seu posfácio, escrito em resposta a Ronald Dworkin, com a seguinte passagem: “Dworkin também acusa a atividade criativa judicial de injusta e a desaprova como uma forma de legislação retroativa ou ex post facto, que, evidentemente, é em geral considerada injusta. Mas a razão para que se considere injusta essa atuação legisladora retroativa é que ela frustra as expectativas justificadas daqueles que, ao agir, depositaram sua confiança na suposição de que as consequências jurídicas de seus atos seriam determinadas pelo estado conhecido do direito estabelecido quando tais atos foram praticados. Entretanto, essa objeção, mesmo que tenha cabimento se dirigida contra uma mudança retroativa feita por um tribunal, ou contra a revogação do direito claramente existente, parece totalmente fora de contexto nos casos difíceis, pois estes são casos que o direito regulamentou de forma incompleta para os quais não existe situação jurídica conhecida, ou direito claramente estabelecido, que justifique expectativas”[7].
Concorde-se ou não com essa atividade criativa ressalvada por Herbert Hart, uma coisa parece objetivamente inquestionável: há uma diferença substancial entre o que ora designamos arbitrariedade, discricionariedade e indeterminação do Direito. Quem aceita e reconhece espaços de incidência das duas últimas não está transigindo com a primeira[8]. A discricionariedade de que fala Herbert Hart não é a arbitrariedade de que ora estamos falando e que a todos ultraja – possivelmente ultrajaria o próprio Herbert Hart! E é por isso que a crítica à arbitrariedade que cresce em nosso cotidiano nem resvala no mestre de Oxford.
O que o garantismo processual não disse sobre o tema.
Feitos os esclarecimentos conceituais pretéritos, podemos avançar.
Na ansiedade de integrar o debate público, não é incomum vermos textos pressupondo a absoluta cegueira de leitura da realidade dos seus adversários. Ou até mesmo projetando uma ingenuidade com resquícios de – e não há outra palavra para isso – estultice.
Dizemos isso porque, em que pesem algumas leituras açodadas, é evidente que o garantismo processual não nega a discricionariedade, a arbitrariedade e a indeterminação do Direito no plano fático. Jamais negou. E isso não apenas no garantismo processual, mas no meio jurídico. Nenhum garantista processual sofre de estrabismo quando se está a tratar da leitura da realidade. Então, é óbvio que o garantismo reconhece o fato de que tais questões existem. Negar isso seria o equivalente a um terraplanismo jurídico.
Assim sendo, desafios como o de “entregue autos de idêntica causa para vinte juízes imparciais e neutros, para que eles confeccionem sentença sobre reparação de danos morais”, para provar que os casos serão tratados de formas distintas[9], não são verdadeiros desafios, mas uma singela confusão entre descrição de fatos e normatização. Dito de outra forma: aqui, nesse desafio, há apenas a velha confusão entre cópulas proposicionais de preponderância metodológica de ser e dever-ser.
De novo, quando o garantismo processual reconhece a existência dos fenômenos relatados, como já fez inclusive nos títulos de seus textos[10], está descrevendo um fato. O Direito possui um grau de indeterminação que impede que respostas iguais sejam sempre e invariavelmente dadas, porque, como expressa e taxativamente já referenciou-se em textos, “não existe um nível de exatidão matemático no Direito, pois não há um nível de exatidão na linguagem e os códigos não conseguem prever todas as situações da vida”[11].
Daí que quando críticos argumentam que o garantismo processual falha no combate à discricionariedade porque o juiz é “um ser humano” ou que, conforme Kelsen descreveu, a conduta de um magistrado é produto de um ato de vontade, não fazem nada mais do que confundir proposições descritivas de fato com proposições normativas, achando que de uma observação de fato se pode anular, eo ipso, uma afirmação normativa ou pode afastá-la em sua substância.
Colocando em um exemplo mais claro: embora o standard de racionalidade seja próprio de uma ciência natural, é didático pensar na literatura médica, quando se criam procedimentos e avanços para que se evite ao máximo que erros ocorram (=aspecto normativo da “doutrina” médica); isso, contudo, jamais será capaz de erradicar totalmente tais erros profissionais (=circunstância fática). Veja-se: se fossemos transpor os argumentos ofertados contra o garantismo processual para a medicina, teríamos médicos se voltando contra a literatura de contenção de erros porque estes aconteceriam mesmo assim. Uma espécie de fatalismo doutrinário.
Ora, entregue o mesmo problema médico, também para vinte médicos, e o resultado será qual? Já sabemos. Isso, contudo, não é fato impeditivo de que a literatura especializada continue a produzir conteúdo normativo indicando como os médicos devem operar para evitar erros que, inevitavelmente, acontecem e vão acontecer. O erro fundamental é acreditar que, pelo fato de uma postura normativa não poder erradicar totalmente um aspecto factual – juízes decidindo arbitraria e discricionariamente – é impossível que a normatização reduza – quando não elimine – esse “problema”.
Veja-se que, nesse sentido, há a expressa assertiva contra o garantismo processual: “Esforcem-se como quiserem: é escolha. Pautada por critérios? Sim. Mas é conduta humana”[12]. Exato! Ora, para isso que servem os critérios elaborados (=papel normativo da doutrina). Para buscar reduzir e controlar coisas como a arbitrariedade, discricionariedade e indeterminação do Direito, ainda que não consiga suprimi-los totalmente diante do amplo espectro factual que circunda as atividades humanas, entre elas, o Direito.
Tanto isso é verdade que, partindo dessa descrição da realidade, alguém pode justamente buscar meios de controlar, senão erradicar, a discricionariedade. Prova disso é o depoimento de Fernando Vieira Luiz, na abertura da sua defesa de dissertação de mestrado, tal como relatado por Lenio Streck: “sou juiz, minha mãe é juíza, meus amigos juízes e promotores, com os quais convivo, são todos honestos, probos e justos. Interessante é que, quando nos reunimos para falar sobre os casos que decidimos, chegamos a conclusão que, embora a nossa honestidade, probidade e sentimento de justiça, damos sentenças tão diferentes umas das outras, em casos, por vezes, muito similares”. E da constatação fática, alcançou a seguinte perplexidade normativa: “cheguei a conclusão de que havia algo errado. Não basta ser honesto, probo, ter sentimento do justo. Todos, eu, minha mãe, meus amigos, decidimos conforme nossas consciências. Só que as decisões são tão discrepantes ... Por isso, fui estudar teoria da decisão”[13]. Daí se vê como cada um pode reagir normativamente diante de um problema fático... E claro, isso deporá sobre o modo como articulam, consciente ou inconscientemente, conceitos interpretativos como república e democracia, para falar apenas destes.
Então, é preciso ficar claro: o garantismo processual jamais sustentou a inexistência de discricionariedade, indeterminação do Direito ou até mesmo da arbitrariedade no plano dos fatos. Isso ocorre diariamente, ninguém ignora. Mais ainda: o garantismo processual jamais disse que o Direito deve seguir um ideal em que “o juiz estaria limitado por um sistema legal e sacrossanto, imune de valores, matemático”[14]; na verdade, disse exata e taxativamente o contrário disso, conforme passagem e textos acima retomados.
Daí que é preciso compreender o plano das alegações dos autores. Se um texto normatiza (dito como deve ser) sobre os problemas da arbitrariedade, por exemplo, visando a alterá-la, qualitativa ou quantitativamente, ele não poderá ser combatido com um argumento de fato, que é a justificação mesma e fundamento primeiro da própria normatização. Ora, dizer que o “garantismo [processual] falha em combater a discricionariedade porque juízes atuam através de suas vontades” não é uma refutação, mas apenas a constatação inicial de uma premissa necessária: se não existisse o “problema” de que juízes atuam pautados na discricionariedade, arbitrariedade e trabalhando com problemas de indeterminação (=fato), nem mesmo haveria sentido em combatê-los (=normatização sobre a alteração de um fato)...
Metodologicamente, o desafio deveria ter buscado esteio em uma afirmação normativa; não de fato. No plano dos fatos, inexiste divergência: o garantismo processual não nega a existência desses fenômenos, mas, aí no plano normativo, acha que isso é algo antijurídico. É por essa razão que normatiza visando a reduzir ou eliminar o problema, ainda que aconteça e que continue acontecendo no plano dos fatos – i.é, ainda que não tenha sucesso, que fracasse.
Por isso que o crítico do garantismo processual deveria, se quisesse fazer uma objeção que não tivesse recaído em inépcia metodológica, ter também argumentando no plano normativo dizendo e justificando o porquê de a arbitrariedade ser algo juridicamente aceitável. De nossa parte, justamente por considerarmos que juízes decidem através de suas vontades é que se faz necessário normatizar, sim, as condições de licitude da interpretação jurídica, reduzindo – quando não eliminando – a atribuição arbitrária de sentido, a discricionariedade e a indeterminação do Direito.
Por fim, impossível deixar de observar que alguns dos ataques em direção ao garantismo processual criaram um dos maiores espantalhos que já se observou no debate público brasileiro. Por tratar os problemas de arbitrariedade, discricionariedade e indeterminação do Direito como se fossem exatamente a mesma coisa – e, como vimos, estão longe de ser –, acaba colocando, na conta do garantismo processual, posições que não sustentou. A questão não pode ser tratada de forma binária e reducionista com o raciocínio de que “ou é matemática ou é o império do arbítrio e da vontade pessoal dos juízes”.
Por exemplo: é óbvio que o garantismo processual defenderá, no plano normativo (de como as coisas devem ser), a extinção completa da arbitrariedade. Com relação à discricionariedade e à indeterminação do Direito, buscar-se-á uma implacável redução. Em muitos casos, com uma construção epistemológica fundamentada (=conhecimento produzido pela doutrina, jurisprudência e leis), será possível a completa erradicação da discricionariedade e da indeterminação do Direito no plano normativo, ainda que isso sempre ocorra no plano dos fatos. Isso justificaria a nossa caracterização como “extremamente oxigenados de racionalismo” ou “racionalistas extremados”? Não parece que seja assim.
Ora, pensamos que não há nada de extremado na postura normativa que visa a erradicar arbítrios. Que visa a construir critérios e padrões para que decisões sejam tomadas com o mínimo apelo possível à discricionariedade. Ou ainda, não há nada de “extremo” em buscar critérios para que o problema da indeterminação do Direito seja resolvido. Em verdade, deve haver uma extrema preocupação com a autonomia do Direito e o consequente respeito à forma republicana e democrática sob a qual estamos constituídos como, aliás, extrai-se do art. 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Repetimos: é preciso situar as argumentações dos contendores. Vejamos novamente o desafio de “entregar autos de idêntica causa para vinte juízes imparciais e neutros, para que eles confeccionem sentença sobre reparação de danos morais. Se não conversarem entre si, teremos um amontoado de sentenças diferentes. Umas mais parecidas, outras menos parecidas. Mas diferentes. O sistema se contenta com essas sutilezas – para alguém extremamente oxigenado de racionalismo, há necessidade urgente de tarifação legal e ex ante do assunto” [15]. Ora, isso além de não ser um desafio por inépcia metodológica, conforme já explicitado, também não pode ser um desafio substancial porque o garantismo processual jamais propôs algo tão pueril.
Aqui chega nossa vez de lançar um desafio: que seja apontado um texto em que um garantista processual defende a ideia de que 20 decisões de danos morais devem ser exatamente iguais. Aliás, em texto publicado em 05.09.2016, versando o problema da determinação do pedido de indenização por danos morais, Diego Crevelin e Lúcio Delfino lançaram argumento na linha do que ora defendemos: “Precisamente aqui está o ponto: se, de um lado, é desejável e exigível a autorresponsabilidade do autor, de outro, não se pode descurar da responsabilidade (política) dos julgadores, nos casos concretos, de seguirem padrões interpretativos oferecidos pela jurisprudência. Apenas quando os juízes, em geral, forem fiéis a uma criteriologia que (na impossibilidade de aniquilar, ao menos) se mostre capaz de reduzir a sua discricionariedade no arbitramento do dano moral é que se poderá exigir dos jurisdicionados responsabilidade na formulação de seus pedidos”[16].
Nunca se imaginou que todos os juízes fixarão os mesmíssimos valores em todo e qualquer caso de indenização por danos morais. Isso é transpor o argumento ao absurdo: do fato de que se normatiza contra a arbitrariedade, concluiu-se que o argumento acarreta na completa “matematização” do Direito, como se os juízes tivessem que dar condenações de danos morais exatamente iguais, concordando até nos centavos do quantum. É uma expansão indevida e absurda do argumento. O que se exigiu, isso sim, foi a instituição de uma criteriologia capaz de orientar racionalmente essa atividade interpretativa. Portanto, lançar o desafio foi fácil; difícil será acrescentar uma nota de rodapé a isso, apontando a fonte.
Concluindo, aquilo que parece ser extremado, por outro lado, é falta de racionalidade de alguns que acham (ou parecem achar) que o arbítrio é inevitável e o papel da doutrina é ser subserviente a (ou, no mínimo, totalmente impotente em face de) tais posturas e aplaudir (ou, no mínimo, se conformar com) decisões que tomam como critério último a posição dos astros. Não vemos como nossa indignação com essas posturas seja possível de nos caracterizar como “racionalistas extremados”. Afinal, o Direito sempre demandou racionalidade, sob pena de se tornar “qualquer coisa” dita por alguém dotado de potestas (poder) mas despido de auctoritas (saber)[17].
Notas e Referências
[1] Sem adentrar na possibilidade da divisão substancial entre ser e dever-ser. O ponto, aqui, é metodológico.
[2] Em sentido contrário, de atribuir ao autor a responsabilidade por aquilo que não pretendeu dizer, diz Jouvenel, quando trata de Hegel, que “Hegel não parece ter intencionado construir uma teoria autoritária. Mas ela se julga por seus frutos”. JOUVENEL, Bertrand de. O poder: história natural de seu crescimento. São Paulo: Editora Peixoto Neto, 1998. p. 78.
[3] Agradecemos à colaboração de Rafael Giorgio Dalla Barba e Igor Raatz pelos diálogos e esclarecimentos quanto às distinções entre arbitrariedade, discricionariedade e indeterminação do Direito.
[4] Utilizaremos o tema “arbitrariedade” aqui no mesmo sentido que Lenio Streck usa o termo “discricionariedade”. Diz o professor que “discricionariedade, no modo como ela é praticada no Direito brasileiro, acaba, no plano da linguagem, sendo sinônimo de arbitrariedade. E não confundamos essa discussão – tão relevante para a teoria do Direito – com a separação feita pelo Direito administrativo entre atos discricionários e atos vinculados, ambos diferentes de atos arbitrários. Trata-se, sim, de discutir – ou, na verdade, pôr em xeque – o grau de liberdade dado ao intérprete em face da legislação produzida democraticamente, com dependência fundamental da Constituição. E esse grau de liberdade acaba se convertendo em um poder que não lhe é dado, uma vez que as ‘opções’ escolhidas pelo juiz deixarão de lado ‘opções’ de outros interessados, cujos direitos ficarão à mercê de uma atribuição de sentido, muitas vezes decorrente de discursos exógenos, não devidamente filtrados na conformidade dos limites impostos pela autonomia do Direito”. Dicionário de Hermenêutica: quarenta temas fundamentais da Teoria do Direito à luz da Crítica Hermenêutica do Direito. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2017. p. 54.
[5] A propósito, conferir: STRECK, Lenio. SOUSA, Diego Crevelin de. No STJ, taxatividade não é taxatividade? Qual é o limite da linguagem? Revista eletrônica Consultor Jurídico: https://www.conjur.com.br/2018-ago-07/stj-taxatividade-nao-taxativa-qual-limite-linguagem; STRECK, Lenio. SOUSA, Diego Crevelin de. GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos. Por que o STJ deve rever a decisão sobre a taxatividade do artigo 1.015. Revista eletrônica Consultor Jurídico: https://www.conjur.com.br/2018-ago-13/stj-rever-decisao-taxatividade-11015.
[6] Com efeito, a interpretação discricionária ou a indeterminação do Direito não se confunde com arbitrariedade – aquele desejo fruto de intepretações que desconsideram os limites e fins esposados nos textos normativos e ultrapassam as valetas do Direito com subterfúgios céticos, particularismos (desconsiderações propositais ou não dos limites dos significados técnico-jurídicos do ordenamento), consequencialismo (estratégia argumentativa que corrompe o código direito-não direito em busca de um fim fora do programa normativo e de seu âmbito), populismo (o intérprete molda seu argumento extrajurídico ao puro sentimento social) e o idealismo (utiliza-se de argumentos para um modelo ideal que não se traduz no ordenamento vigente no país; uma espécie de interpretação de lege ferenda). Interpretar o Direito não se confunde com institui-lo; esse último é sinônimo de arbitrariedade (substituição do texto pela subjetividade desgarrada do interprete), verdadeira função paralegislativa.
[7] HART, H. L. A. O Conceito de Direito. Martins Fontes. 2012, p. 356.
[8] A propósito: ROSSI, Júlio Cesar. O Garantismo Estrutural. In Processo e liberdade: estudos em homenagem a Eduardo José da Fonseca Costa. Adriana Regina Barcellos Pegini et al. (Orgs.) Londrina: Thoth, 2019, p. 559-570.
[9] SILVEIRA, Marcelo Pichioli. Um debate com adeptos do garantismo processual. Empório do Direito, São Paulo, 10 jul. 2019.
[10] PINTO, Gerson Neves; RAATZ, Igor; DIETRICH, William Galle. Os precedentes vinculantes e o problema da contingência ontológica do Direito. Novos estudos jurídicos (online), v. 24, p. 02-21, 2019.
[11] DIETRICH, William Galle. A atualidade jurídico-hermenêutica de Aristóteles: voltamos a confundir o ofício do artesão com o do jurista? Empório do Direito, São Paulo, 28 dez. 2017.
[12] SILVEIRA, Marcelo Pichioli. Um debate com adeptos do garantismo processual. Empório do Direito, São Paulo, 10 jul. 2019.
[13] LUIZ, Fernando Vieira. Teoria da Decisão Judicial. Dos Paradigmas de Ricardo Lorenzetti à Resposta Adequada à Constituição de Lenio Streck. Livraria do Advogado. 2013, p. 9.
[14] SILVEIRA, Marcelo Pichioli. Um debate com adeptos do garantismo processual. Empório do Direito, São Paulo, 10 jul. 2019.
[15] SILVEIRA, Marcelo Pichioli. Um debate com adeptos do garantismo processual. Empório do Direito, São Paulo, 10 jul. 2019.
[16] DELFINO, Lúcio. SOUSA, Diego Crevelin de. A derrocada do enunciado sumular 326 do Superior Tribunal de Justiça. Revista eletrônica Consultor Jurídico: https://www.conjur.com.br/2016-set-05/derrocada-enunciado-sumular-326-superior-tribunal-justica
[17] Nesse sentido: “la autoridad es el saber socialmente reconocido y la potestad es el poder socialmente reconocido”. DOMINGO, Rafael. Teoria de la “auctoritas”. Pamplona. EUNSA, 1987, p. 49-50. Pelo que vale, igualmente, a referência à seguinte asserção de Dimitri Dimoulis: “Quando se afirma que o decisivo para a aplicação do direito é o interesse do ser humano e não o conjunto de normas válidas, esse “ser humano” (o juiz?) poderá decidir conforme preferências e crenças subjetivas. Mas se é isso que deseja a maioria dos doutrinadores atuais, pergunta-se qual é a utilidade de normas escritas e taxativas, especialmente nos easy cases. Se o intérprete pode submeter o direito a avaliações de conveniência, talvez seria melhor abandonarmos pretextos normativos e substituir o direito escrito pela elaboração de discursos retóricos apresentados por oradores especializados ou simplesmente pela escolha de pessoas sábias e honestas, encarregadas da resolução informal dos conflitos, tal como ocorria em aldeias indígenas ou em cidades medievais e como ainda hoje se verifica em comunidades carentes ignoradas pelo poder estatal”. (DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico. Teoria da validade e da interpretação do direito. 2ª ed. Livraria do Advogado. 2018, p. 191).
Imagem Ilustrativa do Post: Architectural Design // Foto de: Pixabay // Sem alterações
Disponível em: https://www.pexels.com/photo/architectural-design-architecture-blue-build-417273/
Licença de uso: https://www.pexels.com/creative-commons-images/







