Coluna Garantismo Processual / Coordenadores Luciana Carvalho e Antonio Carvalho
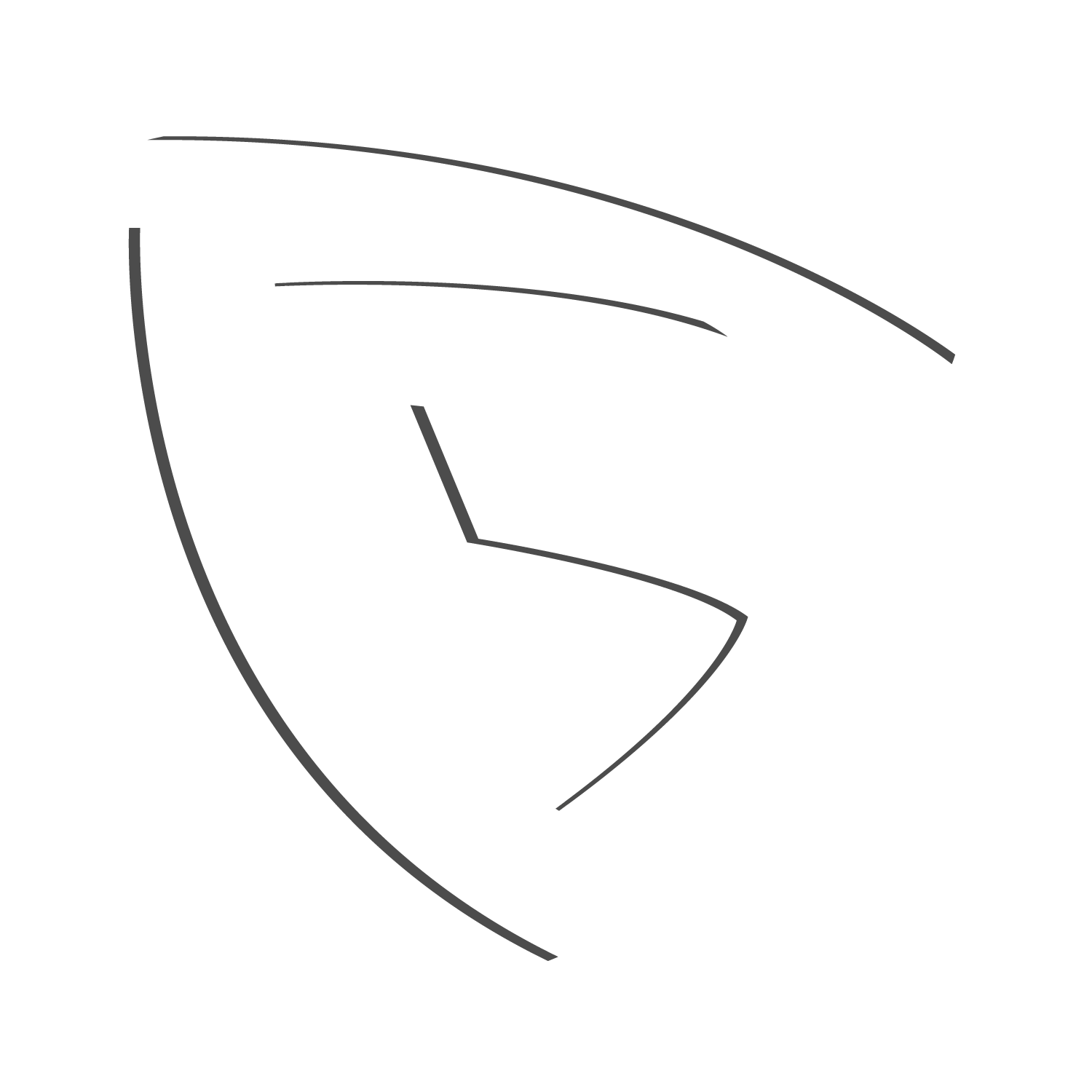
1. O estado da arte
Samuel Issacharof, jurista argentino radicado nos Estados Unidos, onde ensina direito constitucional na New York University, tem uma teoria muito interessante a respeito das democracias[1]. Ele estabelece que uma democracia forte precisa de quatro elementos: a) Soberania popular, b) Instituições de Estado fortes e respeitadas, c) Sociedade civil funcional e d) Manutenção da liberdade do cidadão.
Nessa ordem de ideias, assevera que a ocorrência de eleição, pura e simplesmente, não caracteriza a existência de uma democracia. A eleição é o produto final de uma democracia e elas acontecem inclusive em democracias frágeis.
As democracias frágeis (Fragile Democracies) decorrem da conjugação de elementos socialmente perigosos como o coleguismo, o clientelismo e a corrupção. Além disso, elas são inundadas por partidos fracos e sem dimensão ideológica definida e instituições frágeis ou fragilizadas. Esse tipo de democracia é alvo fácil para líderes carismáticos e populistas, que têm o poder de inflamar massas alienadas pela falta de leitura da realidade e da visão sobre o Estado e sua relação com o indivíduo, bem como para o uso exacerbado da força e o descontrole no exercício do poder estatal.
Segundo Issacharoff, o papel do Judiciário numa democracia frágil é de garantidor das regras do jogo democrático, nomeadamente nos casos de alternância de poder, evitando rupturas institucionais tão comuns neste nível de fragilidade e, ainda, de garantidor dos direitos fundamentais, que existem, justamente, para a limitação do Estado. O mais interessante, nessa análise, é que o próprio Judiciário deve respeitar os direitos fundamentais a ele oponíveis, incluindo o devido processo legal, a necessidade de lei anterior que defina conduta como crime, a legalidade, a pressuposição de inocência etc.
O trabalho para a construção de instituições fortes no Executivo, Legislativo e Judiciário é bastante complexo e demanda tempo, principalmente para o amadurecimento da sociedade civil que viveu muitos anos sob o jugo de autocracias. Como é de se esperar, a maioria do povo tem outras preocupações mais urgentes, de regra para a sua sobrevivência, delegando o exercício pleno da soberania popular para a “classe política”[2].
Um Judiciário cônscio de suas funções em uma Democracia Frágil presta jurisdição com vistas a incrementar rotineiramente, como um mantra normativo, o reforço institucional faltante no Executivo e no Legislativo, seja corrigindo suas práticas deficientes dessas funções, respeitando-se os limites legais, seja preservando as decisões legislativas ou administrativas que não podem ser revistas por inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Esse Judiciário atua em um círculo virtuoso institucional, prestigiando o fortalecimento das demais funções do poder estatal e dele próprio, com vistas ao desenvolvimento de um ambiente republicano-democrático robusto.
Ao contrário do que ocorre com o Executivo e com o Legislativo, que são majoritários por essência, com seus representantes eleitos em sufrágio universal e operam em diversos subsistemas sociais, como a política, a economia, a moral etc, o Poder Judiciário atua somente no subsistema do direito, sempre sob o império da lei.
E por que é assim? Ao contrário do que se passa com os outros dois poderes da República, para ficarmos em apenas uma nota, o Judiciário não atua de ofício, mas apenas por provocação. Aqui radica o núcleo de sua impartialidade[3] (vedação para o exercício do comportamento de parte). A ilicitude e a inconstitucionalidade representam agressões mais fortes e contundentes do que o ferimento da moral, ou das regras costumeiras da política, justamente porque a lei ou a constituição – corrompida pelo ato de determinada pessoa – é dotada de coerção e, por isso, obriga àquele que se esquivou do cumprimento. A atuação da jurisdição é corretiva em sua essência, aquilo que se chama de função contrafática. É nisso, a nosso ver, que se resume o império da lei (rule of law). O Judiciário em uma democracia, seja forte ou fraca, tem o dever constitucional e legal de dizimar qualquer resquício do governo dos homens e enaltecer sempre o governo das leis.
Mas como é a realidade no Brasil? Vivemos nos últimos 30 anos, entre curtos períodos de crescimento e tranquilidade institucional, um estado de coisas que conspira mais e mais para o enfraquecimento institucional do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Fisiologismo partidário, inexistência de identidade e ideologia partidária, desrespeito ao orçamento do Estado, atos reiterados de corrupção e de improbidade administrativa das mais variadas ordens são algumas das razões pelas quais esses poderes sofrem para permanecerem de pé no Brasil.
Isso não passou despercebido pela doutrina jurídica brasileira, que, diante das dificuldades de realizar as correções de rumo pela pretensa inoperância dos Legislativo e Executivo, municiou o Judiciário com poderes não previstos na Constituição, insuflando os detentores do poder contramajoritário a agirem com capacidade criativa em inovação ao próprio direito. O fenômeno pode ser percebido em doutrinas neoconstitucionalistas, instrumentalistas, cooperativistas e afins.
Essa sociedade da urgência, em que não há mais tempo para a reflexão, em que processos perante os juízos devem ser produzidos com a substância e a velocidade de salsichas – próprios da sociedade líquida de que Baumann nos fala – trouxe a noção da normatividade líquida[4], ou seja, o direito não é o produto complexo da atuação do legislativo na aprovação da lei, do executivo em sua sanção e do judiciário na sua interpretação, após o intenso debate das partes, em um procedimento estruturado pelo contraditório e de oportunidade legalmente previstas. O direito deixou de ter referência no direito posto, pois colonizado por outros agentes ou sistemas. O direito perdeu a sua forma rígida e assumiu uma forma plástica e instrumental ad hoc, pela qual ele é apenas aquilo que os tribunais dizem, punto e basta!
A forma plástica possibilita a alteração do formato do direito para “cada caso”, a partir dos “interesses em jogo”, sem qualquer respeito à necessária previsibilidade, segurança e ao limite da atuação estatal. Lançam-se os slogans através de enunciados performativos, tais como “interesse público”, “princípio republicano”, “bem comum”, “contingências da realidade”, “necessidades extraordinárias”, “proporcionalidade e razoabilidade”, “defesa das instituições” e outras desse jaez, passando-se, como em um passe de mágica, a autorizar o Judiciário a escolher, arbitrariamente, a “decisão mais justa”, que assim bem entender!
Essa normatividade líquida somente é possível a partir de uma operação que vê o processo como um instrumento a serviço da jurisdição, seja nas suas versões mais tradicionais ou em suas versões mais soft. O processo passa a ser uma simples ferramenta para servir ao juiz. Ele é entendido como uma coisa do Estado, para o Estado e pelo Estado. As partes tendem a ser coadjuvantes, os seus interesses subjetivos são vistos sempre de modo objetivado, sendo colocado, sempre, em topoi (lugares comuns) previamente determinados pelo juiz. Nesse ambiente, o governo das leis cede lugar para o império judicial, formando uma juristocracia[5].
Mesmo que de modo inconsciente, o juiz produzido por essa ordem de valores se coloca como um ser superior, com capacidade para conhecer das situações e dos fatos de forma qualitativamente melhor que os demais e, por essa razão, é capaz de captar as aspirações da maioria e julgar de acordo com o sentimento absorvido. É ele, portanto, o arauto da justiça e da bondade suprema. Por ser imaculado e elevado, “ele pode porque decide”, como ensina Tércio Sampaio Ferraz, e tem por seu guia apenas a sua consciência e um “direito superior”, imerso em normas morais, éticas, políticas e econômicas formadas por sua percepção, e que visa corrigir o direito legislado. Um judiciário conformado desse modo, ao contrário de dar o suporte necessário para o desenvolvimento político-social de uma democracia frágil, como a finalidade de conformar o fortalecimento das instituições estatais, acaba por depor contra essa democracia e protagonizar o governo dos homens-juízes. É a deturpação completa dos limites impostos ao próprio judiciário, pela Constituição e pelas leis. O judiciário, contramajoritário por natureza, passa a decidir em pseudo-majoritariedade, como se fosse possível a apenas um juiz, ou a um colegiado de 3, 5 ou 11, definir aquilo que a maioria da população quer.
É aqui que estamos imersos no Brasil. Poderes Executivo e Legislativo esfacelados e um Judiciário que engole os demais poderes e o próprio direito, realizando assim a sua própria predação.
2. O abuso do poder
O Judiciário brasileiro nos dá demonstrações flagrantes de como utiliza o processo como instrumento para exacerbar o exercício do seu poder. O limite (processo) serve de mola propulsora do exercício descontrolado do poder estatal (arbítrio). Os exemplos estão à disposição de quem quiser, basta estar atento ao noticiário nacional, ou ao foro em geral. Essa postura decorre, em grande parte, por culpa da doutrina. Hoje, quando “os grandes processualistas” falam de processo, ouve-se muito mais sobre jurisdição descontrolada. O exemplo claro decorre do esforço descomunal de grande parte da doutrina em defender poderes de adaptação do procedimento pelo juiz. Por trás do verniz moral da necessidade de efetividade e de tutela do direito (via de regra, do autor), o magistrado se torna o “senhor-supremo” do procedimento e passa a ditar as suas regras estabelecidas ex post facto. A segurança e o limite, que são características comuns no direito, são abandonados pela vontade do julgador.
O pior de tudo é que o excesso no exercício do Poder é altamente estimulado não apenas pelos Tribunais de Apelação e Superiores, mas principalmente pela doutrina, que possibilita ao juiz ser o predador do próprio direito.
3. A necessidade de limitação do Poder.
É contra tudo isso que nos levantamos.
Desde a formação do Estado Moderno e do processo de conquista da soberania popular, nomeadamente a parte das Revoluções Americana e Francesa, as Constituições no mundo democrático possuem uma dicotomia interessante. Elas prescrevem direitos fundamentais e a organização do poder em seções diferentes. Isso não é apenas um jogo de palavras, representa a lição nº 01 da Teoria do Estado, ou seja, o Estado é fundado pelo povo, para o povo e em favor do povo, estabelecendo-se, desde já, as liberdades individuais – formais e reais – as quais são o primeiro e o último limite ao Poder Estatal. O Estado, portanto, em uma democracia, já nasce com o seu poder limitado.
Dentre os inúmeros direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Brasileira, nós encontramos o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), que deita suas raízes em conquistas históricas e passou no tempo e no espaço por inúmeros testes de erros e acertos, até chegarmos à conjuntura político-jurídica atual. Nada obstante a clareza solar de sua fundamentalidade, o processo sempre foi tratado como algo pertencente ao Estado, seja na doutrina processual, seja na doutrina constitucional. É necessário dar um basta a esta visão estatalista do processo. O processo deve ser visto como um direito fundamental digno da imposição de limites ao exercício do poder estatal. Trata-se de verdadeiro “direito de resistência”[6], chamado de Abwehrrecht[7] na tradição dogmática alemã, e, por isso, visto na relação Judiciário-indivíduo, representa um LIMITE para o exercício da jurisdição, em prol da liberdade das partes.
Não é por outra razão que Eduardo José da Fonseca Costa cunhou a expressão, repleta de conteúdo: o processo é uma garantia de liberdade contrajurisdicional. Isso pode parecer um pouco abstrato demais, mas não é. As implicações práticas são evidentes. Suspenda de sua mente, por um instante, a noção de processo como relação processual, ou como situação jurídica de meio para produção normativa. O processo é, antes de qualquer coisa, um direito fundamental com substância constitucional que tem por finalidade o exercício das liberdades das partes. É essa noção que serve de matéria-prima para que o legislador estabeleça os procedimentos cíveis, penais, trabalhistas, eleitorais etc, sempre à vista dos direitos materiais que devem ser debatidos e tutelados.
Não raro, o legislador, por influência de movimentos estatalistas e arbitrários, deixa de aplicar a matéria-prima do direito fundamental e utiliza a matéria-prima do poder para enxertar o procedimento com regras voltadas ao empoderamento do juiz, em contraste com os limites constitucional impostos. O CPC/15 está recheado desses casos: cooperação processual, boa-fé objetiva, medidas executivas atípicas, poderes probatórios de ofício são apenas alguns exemplos de deturpação do processo pelo poder.
O respeito ao direito fundamental do processo é o primeiro passo para o exercício pleno de uma jurisdição constitucionalmente adequada e civilizadamente democrática.
Não há dúvida de que a independência judicial é um ganho civilizatório sem precedentes, não apenas para afastar do juiz quaisquer pressões internas ou externas para a decisão das causas, mas, principalmente, por garantir-lhe a plena capacidade de interpretação sobre as leis na resolução dos casos que lhe são submetidos. Já há muito a filosofia nos mostra que é impossível conhecer sem interpretar. Todos os signos são objetos de interpretação e aplicação e com os textos legais e constitucionais não é diferente.
Desse modo, o juiz está limitado à interpretação do texto, não podendo inovar a partir dali, principalmente por elementos metafísicos ou metajurídicos, como a moral, a política, a economia e outros domínios. Dentro do grande sistema social, como descrito por Luhmann[8], temos inúmeros subsistemas interligados entre si. Esses subsistemas existem para diminuir a complexidade nas relações sociais, já que reduzem a solução dos problemas a binômios antagônicos. Assim, o sistema da moral funciona segundo o binômio certo (justo) e errado (injusto). O sistema da política aplica o binômio oportuno e inoportuno. O sistema da economia utiliza o binômio lucro e prejuízo e por aí vai. O sistema do Direito, por sua vez, rege-se pelo binômio lícito e ilícito. A lei, dotada de coerção, generalidade e abstração, é a responsável pela definição do binômio.
O Judiciário é o poder circunscrito apenas ao subsistema do direito e isso justifica a sua atuação irrecusável e contramajoritária. É a coerção da lei, aplicada e confirmada pelo juiz, que garante às suas decisões força equivalente à da própria lei. O sistema da moral, contudo, não é dotado de coerção, de obrigatoriedade que a lei possui. Como pode o Juiz utilizar-se de uma regra moral, sem coerção, e alterar uma regra legal com coerção? Isso subverte totalmente o sistema do direito e o poder exercido pelo juiz. Cria-se, assim, uma decisão com força de lei sem a lei, ou melhor, contra a lei. Um paradoxo. É exatamente aí que reside a eternidade das democracias frágeis, no berço do Poder Judiciário ilimitado.
Notas e Referências
[1] ISSACHAROFF, Samuel. Fragile Democracies – New York, Cambridge University Press, 2015.
[2] O’DONNEL, Guillermo. Democracia Delegativa? In Novos Estudos, nº 31, Outubro de 1991, disponível em <https://bit.ly/3sw1O5D>, acesso realizado em 25/02/21.
[3] Para aprofundamento sobre o tema, o excelente livro de Diego Crevelin de Sousa, Impartialidade – A divisão funcional de trabalho entre partes e juiz a partir do contraditório. Coleção Devido Processo Legal, Belo Horizonte : Editora Letramento – Casa do Direito, 2021.
[4] Para aprofundamento do conceito de normatividade líquida: CARVALHO FILHO, Antônio. CARVALHO, Luciana Benassi Gomes. Recuperação Judicial e o voluntarismo judicial, in Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, ano 27, n. 106, abr./jun. 2019, Belo Horizonte, Editora Fórum, pp. 90 e 91.
[5] HIRSCHL, Han. Juristocracy – Political, not Judicial, in The Good Society, vol. 13, nº 3, Penn State University Press, pp. 6-11. GOLDSTEIN, Leslie Friedman. From Democracy to Juristocracy, in Law& Society review, vol. 38, nº 3, 20004, pp. 611-629. GRANT, James. The Rise of Juristocracy, in The Wilson Quarterly, vol. 34, nº 2, 2010, pp. 16-22. ABBOUD, Georges. Juristocracia delegative: os riscos da degeneração democrática trazidos pelo ativismo judicial, in Jurisdição e Hermenêutica Constitucional – Em Homenagem a Lenio Streck, In: Eduardo Arruda Alvim; George Salomão Leite; Ingo Wolfgang Sarlet; Nelson Nery Jr. (Org.). Jurisdição e Hermenêutica Constitucional: em homenagem a Lenio Streck. Rio de Janeiro: GZ, 2017.
[6] DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 7. ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2020. DALLA BARBA, Rafael Giorgio. #46 – Se o processo é uma garantia de liberdade, ele é um direito de defesa, in Empório do Direito, Coluna Garantismo Processual, disponível em < http://bit.ly/3bHxMF2>, acesso realizado em 25/02/2021.
[7] PIEROTH, Bodo. SCHLINK, Bernhard. Direitos Fundamentais, 2. ed., São Paulo : Saraiva Educação, 2019. POSCHER, Ralf. Grundrechte als Abwehrrechte – Tübingen : Mohr, 2003.
[8] LUHMANN, Niklas. Introducción a la teoria de sistemas, Mexico, D.F. : Universidade Iberoamericana, 1996.
Imagem Ilustrativa do Post: Martelo, justiça // Foto de: QuinceMedia // Sem alterações
Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/martelo-leilão-justiça-legal-juiz-3577254/
Licença de uso: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/2.0/





