Coluna Garantismo Processual / Coordenadores Eduardo José da Fonseca Costa e Antonio Carvalho
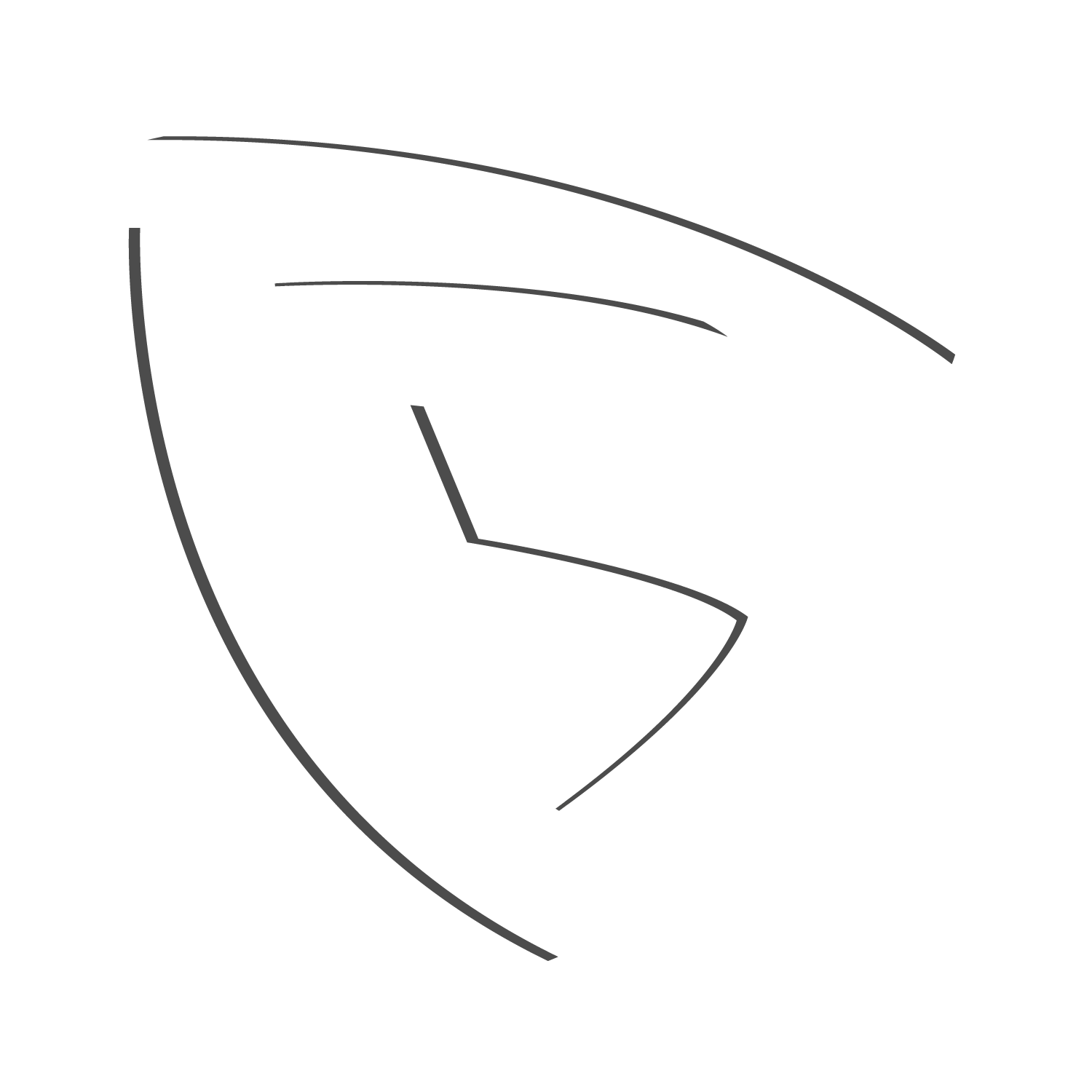
Há tempos, muito se fala a respeito do “novo” papel desempenhado pelo STF no Brasil, e pelas supremas cortes em todo o mundo, com o advento do Estado de Direito Social, no pós-segunda guerra mundial, período em que as constituições se tornam programáticas, para além da previsão de direitos de liberdade.
A preocupação com o papel do Estado extrapola o âmbito de proteção das liberdades dos indivíduos e passa a abranger a efetiva implementação dos direitos sociais. Consequentemente, o cidadão não mais se contenta apenas com a sua liberdade, ele demanda que o Estado lhe confira saúde, vida digna, educação, lazer, condições para se desenvolver; entende que, para ser efetivamente livre, os princípios constitucionais e os direitos fundamentais hão que ser cumpridos.
Às exigências próprias deste “welfare state”, soma-se a atribuição entregue ao Poder Judiciário do “judicial review”, isto é, a competência para, atuando como guardião da Constituição, rever as leis, eliminando do ordenamento jurídico aquelas que a violam, numa verdadeira, porém legítima, invasão nas funções legislativa e executiva.
Trata-se de um verdadeiro movimento mundial de transferência de poder das instituições representativas, como o Legislativo e o Executivo, para o Judiciário, que passa a ser chamado para decidir questões políticas, morais, econômicas, muitas delas nevrálgicas (HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, mai. 2009. ISSN 2238-5177. Clique aqui).
A crise de representatividade dos exercentes do Legislativo e Executivo, os quais não têm conseguido atuar de forma a concretizar os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, serve como mola propulsora desse protagonismo judicial.
As sociedades modernas, complexas e pluralistas não se sentem representadas por aqueles legítima e democraticamente eleitos, não se identificam com seus discursos e propostas políticas e passam, então, a esperar/depender do Judiciário para ver seus direitos constitucionais salvaguardados.
Quem defende este verdadeiro empoderamento do judiciário concorda, em linhas gerais, com tais argumentos, ou seja: falta de representatividade dos democraticamente eleitos; incapacidade do Executivo e do Legislativo em implementar todos os direitos prometidos pelas constituições; falta de representatividade das minorias, que se veem governadas pelas maiorias e, portanto, não têm seus direitos resguardados isonomicamente; com uma suposta capacidade superior dos membros do Judiciário em implementar os direitos humanos etc.
Todas essas questões são trazidas pelos defensores do ativismo judicial “do bem” para justificar que, com o neoconstitucionalismo, o Judiciário deixa de ser ator “coadjuvante”, “deferente” às demais funções do Estado, principalmente à legislativa, e assume papel de protagonismo, de Poder controlador, mas, mais do que isso, de Poder transformador no arranjo institucional.
E aqui, chamo a atenção do leitor para o conceito de ativismo judicial adotado como premissa neste texto: ativismo judicial deve ser compreendido como a atuação do Judiciário que, extrapolando os limites semânticos do texto, busca corrigir ou criar o direito a partir de critérios metajurídicos, ou seja, morais, econômicos, religiosos, do que seja bom, correto, justo, independentemente da ideologia (se de esquerda ou de direita, progressista, conservadora)[1].
No âmbito do Judiciário, um dos maiores expoentes do ativismo judicial e do papel transformador da função jurisdicional é o Ministro Barroso, que propugna a atuação da Corte com a finalidade de “empurrar a história para frente”.
O Ministro advoga a tese de que o STF ostenta três funções: a contramajoritária, já que pode revogar atos do Legislativo e do Executivo; a representativa, porque lhe cabe interpretar as leis conforme o sentimento social, quando mais de uma interpretação for possível; e a função iluminista que, no seu entender, corresponde a “empurrar a história para frente” para viabilizar os avanços civilizatórios (ver aqui).
Para alcançar tais funções, o Ministro Barroso defende que, mormente quando no papel de intérprete da Constituição, o Judiciário aufere legitimidade democrática na medida em que é capaz de corresponder ao sentimento social.
Partindo da premissa de que, como os demais Poderes Estatais, o Judiciário também é representativo, os limites deste último corresponderiam à vontade majoritária e aos valores compartilhados pela comunidade de cada tempo[2].
O ativismo judicial, outrossim, vem sendo delineado no Brasil como algo fundamental ora para corrigir o direito, ora para supostamente concretizar valores, princípios e garantias fundamentais prometidos pela Constituição.
E esta cantilena não fica restrita às colunas do STF. Não há como negar que se trata de um discurso sedutor, atraente, afinal de contas, quem, ostentando poder para tanto, não quer se arvorar da missão de fazer o “bem”, de tornar o mundo um lugar “justo” conforme os critérios que, a partir de si, pensa sejam compartilhados no mínimo pela maioria?
Arrebatados por esta narrativa, os juízes passam a exercer sua função jurisdicional acreditando que ostentam legitimidade democrática para interpretar as leis e a Constituição com amparo em suas convicções do que seja justo, moral e ético e que esteja de acordo com as aspirações, com o desejo da sociedade, da opinião pública.
Não apenas presentantes do Judiciário vêm defendendo esta suposta legitimidade, mas também vários setores da doutrina. Não é difícil encontrar doutrinadores, das mais diversas áreas do direito, que dão suporte a este pensamento/movimento.
Luiz Guilherme MARINONI, para ficarmos apenas num exemplo, afirma que o Judiciário tem a função de “colaborar” com o Legislativo, para a “frutificação de uma ordem jurídica capaz de orientar a vida social”. Defende que o intérprete tem a oportunidade de considerar o texto levando em conta aspectos metajurídicos, como morais, culturais, econômicos e políticos[3].
Acreditando na legitimidade democrática do Judiciário com tais contornos, chega-se a um estado de coisas em que a Constituição não é mais o que ela efetivamente é, mas sim o que o STF, seu “guardião”, diz ser. De igual modo, as leis também não são mais o que são, mas sim o que os mais de 16.000 juízes no País dizem ser. Afinal, “the King can do no wrong”.
Mas será que os juízes ostentam legitimidade democrática nestes termos? Essas afirmações, esses argumentos de grande parcela da doutrina, do Ministro Barroso, encontram amparo na Constituição Brasileira? Já antecipamos ao leitor que nossa resposta é negativa.
A CF/88 consagra a separação dos poderes como princípio estruturante da organização política da República, prevendo como Poderes Estatais, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Dada a sua relevância, diga-se, é trazido no art. 60, §4º, como cláusula pétrea, logo não pode ser suprimido ou alterado sequer por emenda constitucional.
A teoria da separação dos poderes, desde seu nascedouro, passando por seu aperfeiçoamento com MONTESQUIEU, incremento com a doutrina do Checks and Balances (James MADISON), até a sua modernização por pensadores como Bruce ACKERMAN e Jeremy WALDRON, tem como uníssono pilar de sustentação a garantia à liberdade dos cidadãos.
Jeremy WALDRON, inobstante teça críticas e sugira refinamentos ao que fora desenvolvido pela teoria clássica, reconhece que a divisão funcional do Poder Estatal é essencial à liberdade política e a outros valores do Estado de Direito. Para ele, cada um dos ramos do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário) há que se limitar a exercer a sua correspondente funcionalidade, sem invadir as funções dos outros ramos[4].
Nesta toada, Bruce ACKERMAN afirma que o primeiro grande tema do constitucionalismo moderno é a democracia, enquanto o segundo seria a sua limitação, já que o ideal para que se alcance e se preserve a primeira é que o governo seja limitado. Para tanto, prega a difusão do Poder Estatal para um maior número de órgãos, até porque tem como alicerce do seu pensamento que a limitação do poder e a separação de poderes são corolários do constitucionalismo e pilares da democracia (ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. In: Harvard Law Review. v. 113. n. 3. jan/2000. Clique aqui.
Com a concentração das funções do Estado em um mesmo corpo de pessoas, o indivíduo não é livre, porquanto o Estado tende a se tornar despótico, tirânico e a invadir sua esfera de direitos e liberdades arbitrária e autoritariamente. Aquele que julga não pode ser o mesmo que legisla, assim como não pode ser o mesmo que administra e vice-versa. Do contrário, os direitos e garantias fundamentais, inclusive os mais básicos, tendem a ser colocados em xeque.
Tendo esta ideia bem clara, ou seja, de que a liberdade dos indivíduos contra o abuso do Poder Estatal é o pilar de sustentação da separação dos poderes, voltemos os olhos para nossa Constituição.
O Legislativo tem por função constitucional a criação do direito, através da elaboração de leis, e sua revisão. O Judiciário tem a função de aplicação imparcial do direito aos casos concretos que lhe são submetidos. A função imanente ao Executivo é a administração do Estado ou, nas palavras de Eduardo COSTA, a “aplicação parcial do direito”, segundo o interesse público (COSTA, Eduardo José da Fonseca. As garantias arquifundamentais contrajurisdicionais: não-criatividade e imparcialidade. Clique aqui).
Para além das hipóteses excepcionais constitucionalmente previstas em que um Poder pode, em tese, extrapolar o seu âmbito de especialização funcional, compreendemos que a divisão funcional do Poder não é estanque, havendo por vezes pontos de fricção entre os âmbitos de atuação de duas ou mais funções.
Para uma engenharia republicana adequada, de acordo com os ditames constitucionais, é indispensável que as funções guardem respeito aos limites típicos de cada uma delas e, com isso, não invadam indevidamente a esfera de poder da outra. Caso contrário, corremos o risco do usurpador se tornar tirânico e, sem respaldo no ordenamento jurídico, solapar as garantias e direitos fundamentais conquistados com o derramamento de muito sangue por nossos antepassados.
É preciso se ter em mente que o movimento jurídico-político do constitucionalismo acarretou a submissão do próprio Estado ao direito, fazendo surgir o Estado constitucional, em que uma das peças-chave, inquestionavelmente, é o princípio da separação dos poderes na ambiência do Estado Democrático de Direito.
Partindo desse olhar constitucional, podemos começar a responder às perguntas componentes que são os móveis deste ensaio: (a) Juízes representam o povo? Sim, à medida em que integram o Poder Judiciário, que é um dos Poderes do Estado e a CF/88 sacramenta logo em seu art. 1º todo o poder emana do povo.
(b) Como ganham legitimidade democrática? Com a sua atuação nos limites da Constituição, ou seja, exercendo sua função em autocontenção, julgando dentro dos limites semânticos da lei (império da lei), não inovando no ordenamento jurídico (não-criatividade), aplicando a lei de modo imparcial, com imparcialidade objetiva (= imparTialidade, não se comportar como parte, não praticar atos próprios das partes) e imparcialidade subjetiva (não ter qualquer tipo de interesse na causa que julga), já que a imparcialidade lato sensu, somada à não-criatividade, é a característica da jurisdição que a diferencia dos demais Poderes do Estado.
A legitimidade democrática do Judiciário não corresponde a seu agir conforme o sentimento social, até porque esse “juiz antena”, que detém capacidade sobre-humana de “captar” o anseio da sociedade de seu tempo, não existe, é ficção, utopia. Aliás, é bom que se diga que tal legitimidade sequer encontra ressonância na CF/88.
Em razão da função jurisdicional, que tem por característica inarredável a aplicação do direito com imparcialidade, os juízes têm uma outra fonte de legitimação democrática. São representantes do povo, mas de modo diverso do que acontece com o Legislativo e com o Executivo, porque a função do Judiciário não é majoritária, mas sim contramajoritária. Essa contramajoritariedade não decorre da obrigatoriedade da atuação jurisdicional contra a opinião da maioria, mas de ser resistente aos influxos animalescos do momento desta maioria. Explico.
A contramajoritariedade do Judiciário tem como fonte a conciliação entre a independência judicial e o direito. A independência judicial há que ser analisada sob dois enfoques, que se complementam: pelo formal, compreende-se a ideia de que o juiz, para decidir, não pode sofrer pressões internas ou externas ao Poder Judiciário; pelo material, a partir da percepção de que o juiz detém autorização constitucional para interpretar a lei. E é aqui que a independência se alia ao direito, porque este, uma vez posto, obrigatoriamente se torna contramajoritário.
Depois da positivação do direito, mesmo que a maioria mude de opinião, para que ocorra a modificação do direito é imprescindível a atuação dos poderes majoritários (legislativo e executivo) através de processo legislativo, os quais o Judiciário não integra. Não há como fazê-lo a partir da perspectiva contramajoritária porque o direito é simultaneamente limite do poder e proteção daqueles que se encontram dentro do suporte fático da regra e dos princípios.
E é daqui que se extrai a legitimidade democrática dos juízes: ela só e somente só se dá pela vinculação do Poder Judiciário ao direito. São representantes do povo, não eleitos, tecnicamente escolhidos para aplicar de forma imparcial o direito posto.
Pensar o Poder Judiciário de modo diverso, deturpar a função jurisdicional a partir de perspectivas majoritárias, é realizar uma predação do próprio Estado contra o povo, pois não se deve esquecer que os juízes são presentantes do Poder Estatal e, como tais, estão limitados pelos direitos e garantias esculpidos na CF/88. O Poder que tenta se desgarrar de suas amarras constitucionais, mais cedo ou mais tarde, tornar-se-á autoritário e arbitrário e derrubará as estruturas que sustentam o Estado Democrático de Direito.
A atuação ativista é sempre antidemocrática, não interessa se progressista ou conservadora, ou a que título se externe. De outro lado, apenas há legitimidade democrática do Poder Judiciário com a vinculação estrita de sua atuação a partir de sua legitimidade como representante do povo nos limites da constituição. Representar o povo para o Judiciário não é a mesma coisa que representar o povo para o executivo e o legislativo.
Legislativo e Executivo são reativos ao povo imediatamente. O Judiciário é reativo ao direito posto pelo povo e não aos influxos de ocasião. E é dentro destas balizas que os juízes cumprirão constitucionalmente o seu papel na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, um dos objetivos fundamentais de nossa República.
O “calor” está na ambiência legislativa e executiva, não alcança o judiciário. Quando esse mesmo “calor” alcança o judiciário e passa a ser o fundamento de sua atuação na prática em substituição ao direito posto, há uma deturpação do próprio Poder do Estado e o que entra em xeque é justamente a minha, a sua, a nossa liberdade no sentido mais amplo do termo, um dos direitos mais relevantes conquistados pela humanidade.
Notas e Referências
[1] RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Edição do Kindle; NERY JR., Nelson e ABBOUD, Georges. Ativismo judicial como conceito natimorto para consolidação do Estado democrático de direito: as razões pelas quais a justiça não pode ser medida pela vontade de alguém. In: DIDIER JR., Fredie; NALINI, José Renato; RAMOS, Glauco Gumerato; LEVY, Wilson (coords). Ativismo judicial e garantismo processual. Bahia: Editora Juspodium, 2013. p. 525-546; SANT’ANNA, Lara Freire Bezerra de. Judiciário como guardião da Constituição: democracia ou guardiania? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.
[2] BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e política no Brasil contemporâneo. In: FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo (orgs). As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Editora Juspodivm, 2ª tiragem. p. 225-250.
[3] MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. cit., p. 143.
[4] WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. Harvard University Press. Edição do Kindle
Imagem Ilustrativa do Post: hammer, books, law court // Foto de: succo // Sem alterações
Disponível em: https://pixabay.com/en/hammer-books-law-court-lawyer-620011/
Licença de uso: https://pixabay.com/en/service/terms/#usage





